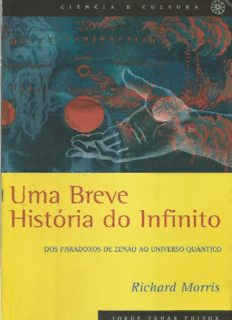Table Of ContentUma breve historia do infinito
Richard Morris
UMA BREVE HISTÓRIA DO
INFINITO
Dos paradoxos de Zenão ao universo quântico
Tradução:
Maria Luiza X. de A. Borges
Revisão técnica:
Henrique Lins de Barros
Doutor em física e diretor do Museu
de Astronomia e de Ciências Afins, MAST/CNPq
Jorge Zahar Editor
Rio de Janeiro
Título original:
Achilles in the Quantum Universe: The Definitive History of Infinity
Tradução autorizada da primeira edição norte-americana publicada em 1997 por
Henry Holt and Company de Nova York, Estados Unidos
Copyright © 1997, Richard Morris Copyright © 1998 da edição em língua
portuguesa: Jorge Zahar Editor Ltda.
rua México 31 sobreloja
20031-144 Rio de Janeiro, RJ
tel.: (21) 2240-0226 / fax: (21) 2262-5123
e-mail: [email protected]
site: www.zahar.com.br
Todos os direitos reservados.
A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui
violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98)
Capa: Carol Sá
Ilustração: Marcelo Torrico
CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ
Morris, Richard
M858b Uma breve história do infinito: dos paradoxos de Zenão ao universo
quântico / Richard Morris; tradução Maria Luiza X. de A. Borges;
revisão técnica Henrique Lins de Barros. — Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed., 1998
(Coleção Ciência & cultura)
ISBN 85-7110-477-8
1. Infinito. 2. Física quântica. I. Título. II. Série.
CDD
500
500
98-1636 CDU 5
SUMÁRIO
Apresentação
Prefácio
A natureza paradoxal da infinidade
Tempo infinito
Mundos infinitos
O infinitamente pequeno
Catástrofe atômica
Os elétrons têm massa infinita
Era uma vez uma garota esperta
Singularidades
O universo é finito, infinito ou imaginário?
Mundos infinitos
∞
APRESENTAÇÃO
O céu que vemos hoje não é muito diferente daquele visto pelos babilônios
há mais de quatro mil anos. Uma variação da posição de algumas estrelas
causaram mudanças nas formas de constelações — certamente uma mudança de
visibilidade devido ao dramático aumento de poluição atmosférica verificado no
último século, mas, para um leigo, a alteração da localização de objetos celestes
não despertaria muita atenção. Enfim, são as mesmas estrelas, salvo uma ou
outra que desapareceu ou que surgiu durante esse extenso período, os mesmos
planetas visíveis a olho nu, o mesmo movimento lento e cadenciado a que já
estamos habituados e a mesma sequência de fenômenos: todos os dias o Sol
aparece a leste e se põe a oeste; a Lua apresenta uma variação de período
próximo a um mês: ora a vemos brilhante no céu noturno, ora não a vemos; suas
fases repetem a mesma sequência. Mas o homem de hoje entenderá esse mesmo
céu de forma totalmente diversa. Se antes a abóbada celeste era o símbolo da
permanência, hoje ela representa o locus das maiores transformações que
podemos imaginar.
Se antes o céu podia até transmitir uma certa imagem de segurança — pois
sua imutabilidade era certeza de constância somente alterada pelo surgimento de
estranhos fenômenos, como o aparecimento de um cometa ou de uma nova
estrela —, hoje esse mesmo céu é objeto das mais avançadas pesquisas e, em
menos de dez anos, a visão e as interpretações dos fenômenos menos observados
mudaram completamente. O céu é atualmente entendido como uma espécie de
laboratório natural onde os fenômenos que envolvem a maior quantidade de
energia conhecida ocorrem com frequência. Enfim, aquele céu envolvente e
imutável que caracterizou a visão do mundo desde tempos imemoriais até o
início de nosso século não tem mais lugar no pensamento científico. E
interessante notar que é no espaço que encontraremos a junção das várias
correntes da ciência contemporânea: as dimensões colossais, as distâncias
indescritíveis, os tempos mais longínquos estão nesse espaço, do qual o homem
só pode ver uma pequena fração. A vida é um tema que passa a ser tratado de
forma recorrente pelo pesquisador que se preocupa com a evolução de objetos
celestes: ela deixa de ser um tema terrestre — da biologia, que cresceu
rapidamente após os trabalhos de Darwin — para se tornar uma questão
cosmológica, pois, afinal, será que só a Terra foi agraciada com ela?
Por outro lado, as menores entidades conhecidas ou concebidas — como os
elétrons, os quarks e todas as famílias de partículas elementares — são as
protagonistas dessa história que não sabemos se teve um começo ou terá um fim.
Só poderemos ter a certeza de que ao Homo sapiens não será dada a
possibilidade de presenciar o desenrolar do drama, pois a ele ficou atribuída a
tarefa de desvendar esse mistério a partir de um conhecimento por ele mesmo
inventado. E aqui talvez resida a questão essencial: para compreender esse
universo que conhecemos muito mal, o homem inventou não só uma linguagem,
mas, ao mesmo tempo, entidades que passaram a ser tratadas como reais.
Essa construção teórica que norteia o experimento introduz conceitos e com
eles trabalha. E, nesse jogo em que a lógica matemática tem um papel
importante, a noção de infinito parece onipresente. Por mais que se evite, ela
aparece aqui ou ali — e é fundamental tê-la em mente.
Em cada época se fez necessário construir uma interpretação do céu, criar
uma história que permitisse compreender o que era observado. O cosmo da
Europa medieval, hierarquizado, organizado segundo critério bem aceitos, algo
aconchegante pois imutável e fechado, foi uma construção útil para se
compreender a realidade. Nele estava escrito, de forma simbólica e que exigia
uma cuidadosa decifração, os segredos da natureza. As observações realizadas
mostravam a existência de um significado e encontravam um paralelo com a
vida cotidiana.
O Renascimento, e mesmo antes, trouxe a urgência de uma reformulação
dessa interpretação e, com o surgimento da chamada ciência moderna —
realizada principalmente a partir das observações e (ver, por exemplo, A revolução
científica, de John Henry, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, Coleção Ciência e Cultura, 1998) reflexões de
Galileu e do trabalho monumental de Newton — a ideia de um cosmo fechado
não teve mais lugar no pensamento. Substituído por um universo aberto, a
questão de sua finitude foi logo assunto de debate. A ciência que se inaugurou
no século XVII teve um crescimento rápido mas não linear: várias correntes se
contrapunham e davam contribuições. Mas a ideia básica de um universo cuja
permanência estava garantida persistiu até meados do nosso século, só sendo
derrubada, lentamente e com muita relutância, após os trabalhos de Einstein e
Lemaître.
A década de 1920 viu, dessa forma, não apenas surgir a ideia de um universo
em permanente transformação, mas também as primeiras observações de outras
galáxias, realizadas por Hubble, e, a partir das contribuições de Louis de Broglie,
Heisenberg e Schrodinger, o surgimento da mecânica quântica — uma nova
mecânica na época ainda pouco compreendida. Com a nova física, o átomo se
apresentou como uma entidade complexa. Mas não foi só isso. Foi também na
década de 20 que as primeiras hipóteses bem trabalhadas sobre a origem da vida
surgiram, com as contribuições de Haldane e Oparin e a ideia de que a vida, para
ter uma persistência, depende de um centro que armazene a informação
hereditária contida no interior de cada célula: uma ideia precursora da descoberta
do DNA. O que parecia resolvido em fins do século XIX adentra o nosso século
mostrando a fragilidade e a força do pensamento científico: a natureza é mais
complexa do que se imaginava, e pequenos detalhes mal-explicados — as duas
nuvens que obscureciam o céu da física clássica, como diria Lord Kelvin —
formaram a base das teorias quântica e relativística.
Hoje está aceita a ideia de que nada no universo tem uma permanência
temporal. Tudo tem uma história. Seres vivos, estrelas, galáxias estão em
constante transformação sem que se conheçam com segurança os caminhos
futuros. Os recentes resultados, sejam eles experimentais ou teóricos, apontam
para uma nova ciência que guardará, sem dúvida, aspectos comuns com a atual,
mas que terá outra proposta. Uma nova ciência, como tem acontecido desde que
a ciência moderna se estabeleceu.
Em todas as épocas a ideia de um infinito parece ter perseguido e desafiado o
poder de compreensão do homem. Embora inevitável, uma vez que se impunha e
se impõe, o infinito, seja ele relacionado com o infinitamente grande ou com o
infinitamente pequeno, parece criar um problema cuja solução está longe de ser
encontrada. Pensar no infinito não como uma figura de linguagem, mas como
algo relacionado com a realidade, n|o é simples e nos leva a conclusões muitas
vezes inaceitáveis e a outras que nos causam complexidade, pois pensar no
infinito é pensar no incomensurável dentro de um corpo de conhecimento que se
baseia na capacidade de medir.
Matematicamente, o infinito aparece: existe um número infinito de pontos
entre dois pontos quaisquer de uma linha, assim como existe uma infinidade de
números compreendidos entre dois números inteiros — aliás, o próprio conjunto
de números inteiros é infinito. Mas será possível pensar numa realidade infinita?
Numa realidade que tenha uma complexidade infinita ou um número infinito de
elementos? A história do infinito, ou seja, a história dos conceitos do infinito,
não é uma história da matemática. E antes uma história da evolução do
pensamento científico e de como é possível se pensar em algo que transcende
qualquer possibilidade de compreensão.
Por que então pensar no infinito se as dificuldades são tão grandes e a
impossibilidade de o medirmos lhe é inerente? Porque o infinito parece se impor
na construção do raciocínio. Não há escapatória. Por mais que se evite abordá-lo
ele aparece, e é uma exigência imposta a nós aceitá-lo.
Description:Há aproximadamente 2.500 anos, ao propor seu famoso paradoxo envolvendo Aquiles e a Tartaruga, o filósofo Zenão de Eléia tocou no cerne de um dos mais duradouros e enigmáticos problemas da ciência: como definir o infinito? Desde então nossos maiores filósofos naturais, lógicos, matemáticos