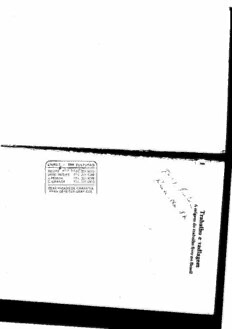Table Of ContentLIVRO 7 , ÊMP. CULTU RAIS
/r__, ) Lret !r *.\
REcrFE, szr:
UFPE RECIFÊ TE1,271.3359 Ç
PESSOA
JC.. GRANDÊ TTEE .LL.. 232211 ..44294390 I _/ .,..;
l.r .<:
CEBTIFICADO DE GARANTIA
PABA DEFEITOS GRÁFICOS r
(
4
é:- 1r
u
<.
5. hI
§,,f: E rr'
í 5S
3g
iat -
§.o
Eo
[;
(,=r!§ 'Ét.L
TM
uo
FE
3
I Lúcio Kowarick
I
i
/'!
r Ao Sul da História - Hebe Maria Mafto§ de Castro
x
o Brava Gente! - Os italianos em São Paulo (1870-1920) -
Zuleika Alvim
r Cafeicultura - Homens, mulheres e capital (1850-1980) -
Verena Stolcke ,,:
o Libertários no Brasil - Antonio Arnoni Prado
o O Mercado de Trabalho Livre no Brasil - Ademir Gebara
oo ONe Mgroovsi.m Eensttroa nAgneairroqsu i-s taO esm e sScãraov oPsa ulibloe r-t osS íelv siau aM vaoglntaa nài Trabalho e vadiagem
África - Manuela Carneiro da Cunha
. Tumbeiros - O tráÍico escravista para o Brasíl - Robert origem do trabalho livre no Brasil
Edgar Conrad
Coleção Primeiros Passos
o O que são Empregos e Salários - Paulo Renato de Souza
r O que são Recursos Humanos - Flávio de Toledo
.
O que é Trabalho - Suzana Albornoz
Coleção Tudo é História
o A Abolicão da Escravidão - Suely B. R. de Aueiroz
o A Crise do Escravismo e a Grande lmigração - Paula
Beiguelman
o A Economia CaÍeeira - J. R. do Amaral Lapa
r A Revolta dos Parceiros - José Sebastião Witter
Coleção Primeiros Vôos
o Estado e Força de Trabalho - lntroducão à política social no
Brasil - Alberto Cignoli
editora hrasiliense
OIVIDINOO OPINIOES MULIIPTICANO(] CUI.TURA
1987
C opy r ig h t @ Lúcio Kowarick
Capa:
Roberto Strauss
Revisão:
Vera H. Iadocico
Emilia Fernandez
Indice
"Não existe pecado ao sul do Equador"
escravidão
Conseqüências históricas da 18
A economia cafeeira do sêculo XIX: a degradação
trabalho
do 36
Abolição
Os percursos da 70
A imigração em massa: produção de homens li-
.
vres enquanto mercadoria para o capital . . 87
Considerações finais: a recuperação da mão-de-
obranacional..
109
...
Bibliografia 130
editra hasiliense s.a.
m rua da consolaçã0, 2697
01416 - são paulo - sp.
(0lll
Íone 280-1222
ll
telex: 33271 DBTMBR
Senhor Amleto Henrique Ferreira-Dutton:
Mas, vejamos bem, que será aquilo que chamamos de
povo? Seguramente não é essa massa rude, de iletrados, enfer-
miços, encarquilhados, impaludados, mestiços e negros. A isso
não se pode chamar um povo, não era isso o que mostraríamos a
um estrangeiro como exemplo do nosso povo. O nosso povo é um
de nôs, ou seja, um como os prôprios europeus. As classes traba-
lhadoras não podem passar disso, não serão jamais povo. Povo
é raça, é cultura, é civilização, é afirmação, é nacionalidade,
não é o rebotalho dessa mesma nacionalidade. Mesmo depu-
radas, como prevejo, as classes trabalhadoras não serão jamais
o povo brasileiro, eis que esse povo serâ representado pela clas-
se dirigente, única que verdadeiramente faz jus a foros de ci-
vilização e cultura nos moldes superiores europeus - pois quem
somos nós senão europeus transplantados?
Maria da Fé:
Então saíram, Vevê de mestre, Sambulho, Nego Régis,
Odorico e Nego Feio, uma coisa mais que linda, a lancha cam-
bando como um boto, o cordame e as madeiras gemendo, a proa
querendo levantar vôo e cortando as ondinhas numa tesourada
veloz, um cardume de agulhões dançando em pé a sotavento, so-
Para Tania e Felix mente os rabinhos ciscando a flor d'âgua (...) Sem conseguir re-
LÚCIO KOWARICK
l
solver para onde olhar durante todo esse tempo, Dafê'se admirou I
de haver tanta ciência naquela gente comum, se admirou também
de nunca ter visto nos liyros que pessoas como essas pudessem I
possuir conhecimentos e habilidades tão bonitos, achou até mes- I
mo a mãe desconhecida, misteriosa e distante, em seu saber nun- l
ca testemunhado. Quantos estudos não haveria ali, como ficavam I
todos bonitos fazendo ali suas tarefas, agora também ela ia ser 56Não
pescadora! Até pouquinho, estivera meio convencida, porque ia existe pecado
ser professora e portanto sabia muito mais coisas do que todos
eles juntos, mas se via que não era assim. Tinha gente que pes- ao sul do Equador't*
cava o peixe, gente que plantava a verdura, gente que fiava o
pano, gente que trabalhava a madeira, gente de toda espécie, e
tudo isso requeria grande conhecimento e muitas coisas por den-
tro e por trâs desse conhecimento - talvez fosse isto a vida, como
ensinava Vô Lrléu, quanta coisa exitia na vida! Que beleza era a
vida, cada objeto um mundão com tantas outras coisas ligadas a "A população liwe, mas pobre, não encon-
ele e até um pedaço de pano teve alguém para prestar atenção sô trava lugar algum naquele sistema que se re-
nele um dia, até tecê-lo e acabá-lo e cortâ-lo, alguém que tinha duzia ao binômio 'senhor e escravo'. euem
conhecimentos tão grandes como esses pescadores e navegadores, não fosse escravo e não pudesse ser senhor,
mas jâ se viu coisa mais bonita neste mundo do nosso Deus? (João era um elemento desajustado, que não podia
Ubaldo Ribeiro. Viva o Povo Brasileiro.\ se entrosar normalmente no organismo eco-
nômico e social do país. Isto que jâ vinha dos
tempos remotos da colônia resultava em con-
tingentes relativamente grandes de indiúduos
mais ou menos desocupados, de yida incerta e
aleatória, e que davam nos casos extremos
nestes estados patológicos da vida social: a
vadiagem criminosa e a prostituição." t
A apropriação privada de meios e instrumentos
de produção, ao gerar lucros por meio da confecção de
bens para o mercado de consumo, constitui condiçao
necessâria para o surgimento do capitalismo. Mas,
para que ele se caracterize, esses processos de pro-
dução precisam estar articulados de molde a criar ex-
(.)
Johann Mauritius van Nassau-Siegen, governador do Brasil Holandà,
1637-1644.
(l) Prado Jr., Caio, Hist6ria Econômica do Brasil, l5l ed., São paulo,
Brasiliense, 197 2, p. 198.
10 LÚCIO KOWARICK VADIAGEM
TRABALHO E 11
cedentes mediante uma modalidade específica de sub- trabalho livre no Brasil encontrou enorme contingente,
jugar o trabalhador: este deve ser livre e expropriado, no qual quem não tiveSse sido escravo nem senhor
de forma que sua liberdade não encontre outra alter- não havia passado pela "escola do trabalho". Mais
nativa senão submeter-se ao capital. Em outras pa- ainda, como os parâmetros materiais e ideolôgicos es-
lavras, é necessârio que haja a reprodução ampliada senciais à sociedade sempre estiveram intimamente
de uma relação social de fundação baseada na explo- conectados ao espectro do cativeiro, para os livres e
ração da força de trabalho. pobres trabalhar para alguêm significava a forma
Contudo, submeter pessoas para que vendam sua mais aviltada de existência. Isso fez com que, no per-
força de trabalho não é algo que se possa fazer de um correr dos séculos, se avolumasse uma massa de indi-
momento para outro. Ao contrârilo, a formação de um víduos de vârias origens e matizes sociais que não se
mercado de mão-de-obra livre foi um longo e tortuoso transformaram em força de trabalho, jâ que a produ-
percurso histôrico marcado, no mais de vezes, por in- ção disciplinada e regular era levada adiante por es-
tensa coerção e violência. Pa.ra tanto foi necessârio
cravos.
efetuar maciça expropriação, que residiu em destruir A questão histôrica fundamental do século XIX
as formas autônomas de subsistência, impedindo o no Brasil foi a superação de uma modalidade produ-
acesso à propriedade da terra e aos instrumentos pro- tiva alicerçada nas correntes das senzalas, principal-
dutivos, a fim de retirar do trabalhador o controle mente a partir de 1850, quando a escravidão perde
sobre o processo produtivo. Mas, além disso, foi tam- suas fontes de reprodução com o término do trâfico
bém necessârio proceder á um conjunto de transfor- africano e, depois de 1880, é submetida à crescente
mações de cunho mais marcadamente cultural, pa,ra pressão social e política.
que os indivíduos despossuídos dos meios materiais de Como a imobilidade do cativeiro poderia ser subs-
vida não sô precisassem como também estivessem dis- tituída pela utilização de livres num país onde a maio-
postos a trabalhar para outros, ria não havia ingressado nas fileiras do trabalho dis-
Nas sociedades européias, em que eram freqüen- ciplinado e regular?' Claro que esta situação variou
tes as draconianas legislações que obrigavam pessoas consideravelmente de uma região para outra no Brasil.
livres a trabalhar, reprimindo as diversas maneiras de De fato, cada província encontrou caminhos diversos
sobrevivência que da ôtica dominante eram vistas como para solucionar o problema do trabalho quando a
vadiagem, as transformações culturais levaram sécu- Abolição tornou-se um processo irreversível. No caso
los, malgrado a presença de grandes variações. de São Paulo, não obstante o vasto e râpido desenvol-
'O presente ensaio analisa a constituição do mer- vimento da cultura cafeeira nas férteis terras do Oeste
cado de mão-de-obra livre num contexto histórico em
que a escravidão foi a forma dominante de trabalho
até épocas tardias do século XI& {,o invés de se pro- (2) Daqui para frente, a utilização do termo livre (homem, indivíduo, po-
cessar sobre a destruição de um campesinato e artesa- pulação, pessoa) incluirá o contingente dos libertos. Refiro-me a eles também
natos solidamente enraizados, a universalização do como nacionais ou brasileiros. Obviamente esses segmentos sô incluem os pobres
e não os potentados econômicos e políticos.
12
LÚCIO KOWARICK TRABALHO E VADIAGEM 13
da província a partir de 1850, o trabalho escravo con-
livre numa ârea que se tornou o fulcro do cultivo de
tinuaria dominante atê as vésperas da Lri Ãurea. Ao
café, ainda durante o peúodo da escravidão, e nas
mesmo tempo, o crescente segmento de livres não só duas primeiras décadas do século seguinte jâ estava à
teve participação acessória e intermitente no processo
frente do processo de produção industrial do Brasil:
produtivo, como também eram eles encarados pelos
toÍnou-se, portanto, desde cedo, o centro da dinâmica
potentados do cafê enquanto vadios, carga inútil, des-
econômica do País.
classificados para o trabalho. Numa situação em que
existia volumoso número de livres, mas não se forjava Em São Paulo, a massa de livres nunca deixou de
um mercado de trabalho, tornou-se imperioso enfren- crescer durante o século XIX, e a ela iria se somar o
tar o problema da mão-de-obra sem que fosse neces- contingente de imigrantes que chegou nas vésperas da
sário utilizar o assim chamado elemento nacional. Abolição. Com o deslanchar das relações de produção,
A fôrmula utilizada pela grande propriedade cafe- que levaria à universalizaçáo do trabalho livre, parte
eira foi a importação de estrangeiros, inicialmente da da mão-de-obra disponível foi cooptada pçlo capital e
Itâúia e, posteriormente, da Espanha, Portugal e Ja- engajada na disciplina do trabalho. Outra parte foi
pão. Eles formaram um fluxo volumoso e sucessivo, mantida disponível de forma Intente nos campos e ci-
produzindo vasta oferta de braços: sem recursos, isto dades, até o momento em que o avanço da acumulação
ê, previamente expropriados, os imigrantes chegavam precisasse do seu concurso no processo produüvo.
com o sonho de Fare a América, ou seja, vieram dis- A leitura de uma gama variada de documentos de
postos a se submeter à disciplina do trabalho. Essa foi vârias fontes leva a concluir que apôs a Abolição ja-
a solução mais adequada para o capitalismo em for- mais houve falta de braços seja nos cafezais de São
mação nessa parte do País, pois, de outra forma, teria Paulo, seja para a industrializaçio que ocorreu no Es-
sido necessârio mobilizar o desacreditado segmento tado. Ao contrârio, o râpido processo de expansão eco-
nacional que foi incorporado ao processo produtivo em nômica sempre contou com larga oferta de braços, que
outras regiões, durante o século XIX, mas não em São veio, particularmente, pelo afluxo de imigrantes. Veio
Paulo: aqui, antes da Abolição, os livres e pobres sô tambêm da mão-de-obra que historicamente havia se
realizaramas tarefas que os escravos não podiam lazer, acumulado nos interstícios da economia, adicionada,
e, depois de 1888, couberam-lhes as atividades mais após 1888, pelos ex-cativos. Estes formaram uma mas-
degradadas e pior remuneradas ou o trabalho em âreas sa desenraizada, que não foi incorporada no processo
cafeeiras decadentes. Por outro lado, os imigrantes produtivo atê 7930, quando a economia viria a apre-
foram canalizados para as regiões dinâmicas do café e sentar maior grau de desenvolvimento e diversificação.
constituíram-se na maior parte do proletariado que u A diretriz teôrica fundamental deste ensaio pren-
operava as mâquinas da nascente e prôspera indústria de-se à idêia, por sinal clâssica, segundo a qual a ex-
de São Paulo. ploração da força de trabalho diretamente engajada
I
Este ensaio centra-se no caso de São Paulo, como no processo produtivo relaciona-se dialética e contra-
meio para analisar a formação do mercado de trabatho ditoriamente com um exército de reserya, disponível
fi
14 LÚCIO KOWARICK TRABALHO E V,IDIACEM 1s
para ser mobilizado pelo capital.' É claro que o grau e a acumulação metropolitana. As conseqüências histô-
modalidade de exploração do exêrcito ativo de traba- ricas dessa modalidade colonial de produção sô pode-
lhadores decorre tambêm, em grande medida, de fa- riam deixar marcas profundas, tanto no que se refere à
tores políticos que vão conferir, em cada conjuntura rigidez e estreitamente do sistema econômico, como no
histôrica, diferentes conjugações de forças no cenârio que diz respeito à população livre e pobre, que, no
contraditôrio das oposições sociais. Confudo, penso final do século XVIII, iãera equivalente ao número de
que no processo de expansão e consolidação do capi- i' escravos. Nesse particular, a discussão centra-se em
talismo no Brasil, a força de trabalho pode ser super- alguns traços fundamentais das "raizes do Brasil",
*
explorada e, em larga medida, atê dilapidada - na enfatizando a questão da degradação do trabalho.\
1
medida em que o capital teve a seu dispor não sô con- O capítulo seguinte persegue essa questão no sê-
dições de domínio político extremamente favorâveis, culo XIX, tendo por referência a economia cafeeira.
mas também um excedente de mão-de-obra que per- Discuto a evolução do estoque. de cativo, apontando
mitia levar à acentuada pauperização expressivos seg- que a alta lucratividade do café tornou possível aos
mentos de trabalhadores, tanto rurais como urbanos. -' fazendeiros comprar escravos de outras partes do País,
É claro que a constituição e conseqüente matura- quando, apôs 1850, terminou o trâfico negreiro e os
ção de um modo capitalista de produzir não depende preços dos escravos subiram vertiginosamente. O pon;
apenas de trabalhadores expropriados dos seus meios to central reside no aparente paradoxo segundo o qual
de subsistência e transformados em mercadoria para o foram as regiões cafeeiras de maior dinamismo que
capital. Outros processos devem ocorrer simultânea ou mais insistiram na utilização do trabalho escravo:
previamente para que a expansão do capital seja im- ainda em épocas tardias do sêculo XIX, os livres e li-
pulsionada. Mas não se deve esquecer que é o trabalho bertos eram considerados imprestâveis para trabalhar
que transforma um objeto inerte em produto de valor. nas plantações, pois a pecha da indolência e vadiagem
Se é o capital que gera a força de trabalho necessâria co[tinuava a desabar sobre eles.
'i
para acumular, criando também os meios de vida para O capítulo 3 analisa os primeiros intentos de uti-
sua subsistência, é o trabalho que dá vida ao capital, lizar máo-de-obra livre, detalhando a clâssica e fracas-
produzindo o excedente necessârio para sua reprodu- sada experiência implementada pelo senador Verguei-
ção e expansão. ro, prôspero cafeicultor paulista, que, por volta de
O primeiro capítulo Íocaliza as razões da intro- 1850, importou colonos estrangeiros para trabalhar
dução - no momento de plena expansão do capitalis- nas suas terras. Também Íocaliza um conjunto de prê-
*
mo mercantil do século XVI l_49 sô da escravidão, condições necessârias para a universalizaçío do tra-
mas da escravidão africana nessa colônia, onde a pro- balho livre, principalmente a questão do acesso à ter-
dução foi exclusivamente estruturada paÍa dinamizar ra, ao mesmo tempo que aponta os processos que 1e-
varam à Abolição da escravatura.
(3) Marx, Karl, O Capital,53 ed., Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, O capítulo 4 aborda a montagem da grande imi-
1980. gração internacional, vasto empreendimento subsidia-
TRABALHOEVADIAGEM
17
16 LÚCIO KOWARICK
no Institute of Development Studies da Universidade
d;;oJ p;e6lo; ;E stadod ae cAabpoitlaiçnãeoa,d oa pfiemlo sd.peo cterinatra dvooslu mdoo scaa fée de Sussex. Quero expressar meus agradecimentos ao
reno' referido Instituto e também à Fundação de Amparo à
[u."t" ãÍerta da mão-de-obra' Constantemente
;;à;ã* t,r""*i* fl"*ot do exterior' essa abun- Pesquisa do Estado de São Paulo, que, na época, con-
bàéãm"" ipãaár"a U"r av"çi"eo'rs-a "fmoi" i pifãaátoto" ra idnse dc umidsaatgdrineaasl: ' ipmgrrpoaodnrudtzeâisnn cdleioav avtsaa msdtoe- cdreeead 1leiz9ua8-dm0a,e r neuosmsu laata nbnodoso lsf iann.aa O iste usdtear a dd evé ecLraisvdãraeo - dddeoe cs1êd9ne7 c0ei ane,s aidnieoícf eifonos-i
dida em 1981, na Área de Ciência Política do Depar-
";tã[";"tg. "itio"ds" striat de reserva, que serviu para rebaixar
ás satârios e desorganizar a resistência da classe ope- tPaamuelon. toN edses eC miêoncmiaesn tSoo, ccioanist edi ac oUmn ivoe arspiodiaod deo d Seo Sciãaol
r'q-â!".r"'i,ar i Aãnãot s .á ;mnuso;im:dree"ranatiçoüõsãe dáse ' icf iondonatfis lint oad'ecisoten aeisn's paoion lrge tpoomr asmin aal Speciseqnuceis aR einseicairacdh aC oaunnocsi l,a no tqeuse. pEoxspsreibsilsitoo ua qamuip mliaeru sa
bâsico na Íormaiçt;i;t-"ãitt um eGrcraanddoe d Ge uterarrbaa' lhqoua enmdo Scãaoi laeggraasd eqcuiem efinzetorsa ma epsatrat ein dsati tubiaçnãcoa, ebxeamm cinoamdoo raao: sp croo--
Pdraausltoic: admueranntete au entrada de imigrantes e quando' com fôenscsioor eMs aBrtoinriss RFaoudrsitgou,e Fs,r aPnacuisl cSoi nCgeorr ree aW Warereffno rDt,e aLne.-
oda;tel ursiser;e a;dcÍí nera*utssed*es en.oassvc cogi ailxmvideneoYeimesent taguouàoe mo rd"as o*el ssdtd fiocoe'o r eçtcngoxhfl ltaTipetmo ar's iraooa dsrs o'r o ee ocv"ssivaat rílgiarosurnt'ul srgepz esaaoiprrns eo aacsdr i oadqpmleumasisiseanstncaaartnmee"'-- eptteéroamrrm tppeAeio ns mrovâqe aunrditesseeãaarso dita -eof li rnt frCadoaolrE b adCDameelsEhn teCdot re.,eo n Ecgdsurleaeaj iooEn t dsacftoelmui imd ibrmoeaésap m ilodniz ertaste âdCelena uecc lqnttiuauurri aaqaplnu adeeCroc oas enju uáo--
d"--rit-ta"-d T*a"e mirmoãoi n- aãdn epd-aoorb treeas tdnae ai ncuitomron dapul'rçoãjeot'o q-mueaarioooser s ccqoluanerfe ldcitegizrt qrteus ^ei- Dccouemrpsa oarsts a ddmeise cpnuôtsoss- õgderaesd qCuuaiêeçn ãmcoi aanqs tuiSveoe,c cdiaouimsra, nvbâteermi oa slc gocuomnlesog aapsne oldosos,
pãeãi"tão iiàa ãe vpol.uoçi"ãtoa ,"iatU-ã""" t-i"at'ittiul'e m São Paulo até realizam sobre o tema. Agradecimentos especiais ao
ãlg"2ól.i nM*a s nisasso hneãroa npçoad"se. iqrtiiuaoe nt ecmria asr icdaor afemit oa sseomci eadnatdees Pgianualios, Ker ias cAhnknea ed eF Ferrneaitansd,o qNuoev, aailsé,m q udee loeuratrmas ocso iosaris-
brasileira desde t,'ut coloniais' Elas estiveram fundamentais, ajudou na revisão final deste texto.
pt"t"ttt"t'o"t igp"""ts"' '"to do século XIX' quan'
fortemente
do se fodoo o *"ttuao de mão-de-obra livre no Brasil'
,,o. de intensa degradação do trabalho, acu-
mulad"ooo at"trxatvoé s d; q;"ttt sãculos de rigores e horârios
inerentes ao cativeiro'
Na sua versão original' este ensaio foi escrito entre
quando permanecl como Visitting Fellow
1975-1976,
VADIÂGEM
TRABALHO E 19
e políticos prôprios à ordem escravocrata. O ponto de
partida histôrico ê, por conseguinte, o sistema colo-
nial. Não se trata de analisâ-lo em detalhes, mesmo
porque sua variação foi enorme. Interessam suas ca-
racterísticas bâsicas e "heranças", isto é, as raízes que
continuaram profundas no decorrer do século XIX ca-
Conseqüências histôricas feeiro e que muito repercutiram no processo de for-
mação do capitalismo e das classes sociais no Brasil.
Em grandes pinceladas, convém, inicialmente,
da escravidão
ressaltar que o sistema .olonial criado pelo capitalismo
mercantil çonstituiu ut a das alavancas de fundamen-
tal importância para a acumulação da burguesia me-
tropolitana. De fato, as colônias americanas, enquan-
to expressão ultramarina do mercantilismo, devem ser
"Produzir para o mercado europeu nos qua-
dros do comércio colonial tendentes a pro- entendidas como formas de acumulação primitiva, cu-
mover a acumulação primitiva de capital nas jos excedentes estavam inteiramente voltados para a
economias européias exigia formas compul- expansão do capital realizada em alguns países euro-
sôrias de trabalho, pois, do contrârio, ou não peus.z Com exceção das "colônias de povoamento" da
se produziria para o mercado europeu (os co- Nova Inglaterra, cuja ocupação estruturou-se para
lonos povoadores desenvolveriam uma eco-
nomia voltada para o prôprio consumo) ou se uma produção voltadapara o autoconsumo, os demais
se imaginasse uma produção exportadora or- núcleos foram arquitetados pelo capital metropolitano,
ganizada por empresários que assalariassem de molde a organizar uma produção em larga escala
trabalho, os custos da produção seriam tais de artigos tropicais: são as "colônias de exploraÇão",
que impediriam a exploração colonial e, pois, que, no caso brasileiro, aparecem de forma exemplar.
a função de colonização no desenvolvimento
do capitalismo europeu (os salârios dos produ- Efetivamente, desde cedo, com a introdução da
tores diretos tinham de ser de tal nível que cultura do açÍrcar no século XVI, criou-se um sistema
compensassem a alternativa deles se tor- produtivo que não se configurava como mera atividade
narem produtores autônomos de sua subsis- extrativa e temporâria. Ao contrârio, tratava-se de ex-
tência evadindo-se do salariato.)"' ploração permanente, que necessitava de grande con-
Para compreender a constituição do mercado de
mão-de-obra livre no Brasil, ê necessârio retroceder no ( 2) Nesse particular, as obras de Caio Prado Jr. constituem um marco bâ-
sico. A importância do sistema colonial para a expansão Co capitalismo metro-
tempo e focalizar alguns parâmetros sôcio-econômicos politano é analisada, entre outros, por Genovese, Eugene D., The World Slave-
fuildcrs Made, Nova Iorque, Pantheon Books, 1969. Veja também o clássico es-
trrtlo de Williams, Eric, Capitalism and Slavery, Carolina do Norte, Chapel Hill,
(1) Novais, Fernando Antonio, Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sis' 1914.
tema Colonial (t 77 7 - I 805), São Paulo, HUCITEC' 1979' p' 102- 103'