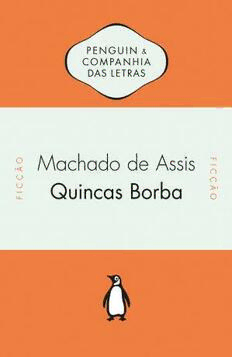Table Of ContentQuincas Borba
machado de assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, nos arredores do centro
do Rio de Janeiro. Seu pai, Francisco José de Assis, era “pardo” e neto de escravos; sua mãe, Maria
Leopoldina Machado, era açoriana. Ainda criança, perdeu a mãe e uma irmã, e, em 1851, o pai. Foi
criado pela madrasta e cedo mostrou inclinação para as letras.
Começou a publicar poesia aos quinze anos, na Marmota Fluminense, e no ano seguinte entrou
para a Imprensa Nacional, como aprendiz de tipógrafo. Aí conheceu Manuel Antônio de Almeida e
mais tarde Francisco de Paula Brito, liberal e livreiro, para quem trabalhou como revisor e caixeiro.
Passou então a colaborar em diversos jornais e revistas.
Publicou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, em 1864. Contos fluminenses, sua primeira
coletânea de histórias curtas, saiu em 1870. Dois anos depois, veio a lume o primeiro romance,
Ressurreição. Ao longo da década de 1870, publicaria mais três: A mão e a luva, Helena e Iaiá
Garcia. Seu primeiro grande romance, no entanto, foi Memórias póstumas de Brás Cubas, publicado
em 1881. Papéis avulsos, de 1882, foi sua primeira coletânea de contos dessa fase.
Em dezembro de 1881, com “Teoria do medalhão”, começou a colaboração na Gazeta de
Notícias. Ao longo de dezesseis anos, até 1897, escreveria mais de quatrocentas crônicas para a
Gazeta. Em 1899, publicou Dom Casmurro, em 1897, foi eleito presidente da Academia Brasileira de
Letras, instituição que ajudara a fundar no ano anterior.
Morreu em 29 de setembro de 1908, aos 69 anos de idade.
john gledson nasceu em Beadnell, Northumberland, Inglaterra, em 1945. Doutor pela Universidade
de Princeton, é professor aposentado de estudos brasileiros na Universidade de Liverpool. Publicou
três livros sobre Machado de Assis no Brasil: Machado de Assis: ficção e história (Paz e Terra,
1986), Machado de Assis: impostura e realismo (Companhia das Letras, 2005) e Por um novo
Machado de Assis (Companhia das Letras, 2006). Organizou três volumes de crônicas e duas
antologias de contos do mesmo autor, sendo a mais recente 50 contos de Machado de Assis
(Companhia das Letras, 2007). Prefaciou Papéis avulsos, do mesmo autor, pela Penguin-Companhia
das Letras. Traduziu diversos livros do português para o inglês, entre eles Dom Casmurro e o livro de
contos A chapter of hats and other stories, de Machado de Assis; Relato de um certo Oriente, Dois
irmãos, Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum; Um mestre na periferia do
capitalismo, de Roberto Schwarz; e o roteiro do filme Central do Brasil.
maria cristina carletti graduou-se em Comunicações e Artes pela Universidade Mackenzie em 1975.
Desde então atua na área editorial, com pesquisa documental, produção e edição de textos para
publicações didáticas, obras de referência e projetos especiais. Exerceu funções de diagramadora,
revisora, redatora e editora nas editoras Saraiva, Moderna, Ática, Scipione, Pangea e Minden.
Atualmente presta serviços para as editoras Minden, do Brasil, Geração, Companhia das Letras,
Ediouro, Conrad, Rocco e outras.
Sumário
Introdução — John Gledson
quincas borba
Cronologia
Leituras complementares
Introdução
JOHN GLEDSON
Quincas Borba figura, junto com Memórias póstumas de Brás Cubas
(1881) e Dom Casmurro (1899), entre as maiores realizações de Machado
de Assis. Foi publicado completo, em forma de livro, em 1891; entre
aqueles dois, portanto. Por alguma razão, sempre sofreu dessa posição
intermediária e recebeu menos atenção que seus vizinhos. Parece mais
convencional, menos ousado — sobretudo não tem Brás Cubas nem Bento,
os narradores em primeira pessoa que constituem um desafio permanente
para o leitor, um estímulo constante.
Quincas Borba, porém, é tão estimulante, variado, sutil, divertido, e até
profundo quanto Memórias póstumas e Dom Casmurro — e tem um
narrador pouco menos interessante. O obstáculo maior à sua compreensão e
desfrute talvez seja, justamente, a comparação com os romances que o
precedem e seguem. Compreende-se isto, na medida em que toma seu título
de um personagem que já aparecera em Memórias póstumas, e que
reaparece (e morre) no começo deste, dando seu nome a um cachorro que
só morre no final do romance. Mas não é útil — pode até ser
contraproducente — vê-lo como simples continuação. De fato, o próprio
autor apoia este nosso argumento, num dos raríssimos comentários à
própria obra. Irritado, talvez, com os críticos que especularam demais
acerca das semelhanças e contrastes entre os dois romances, Machado
comenta na segunda edição, de 1896, o título e o personagem de Quincas
Borba: “Se lestes os dois livros, sabeis que é o único vínculo entre eles,
salvo a forma, e ainda assim a forma difere no sentido de ser aqui mais
compacta a narração”. Vale a pena levar essas palavras a sério: é preciso
entender Quincas Borba nos seus próprios termos. O objetivo principal
desta introdução é voltar ao começo, situar Quincas Borba noutros
contextos mais úteis, e ver o enredo, os personagens, o ponto de vista
narrativo em termos que lhe convêm, e que nos permitirão vê-lo de novo,
sem excessivo verniz crítico, como o grande romance que é. Para isso, é
mais esclarecedor começar, não em Barbacena, mas no Rio de Janeiro, e
deixar os acontecimentos iniciais — as cenas de Barbacena, com a morte de
Quincas Borba, o legado do cachorro, e a exposição da filosofia louca, o
Humanitismo — para o fim desta introdução, onde serão mais fáceis de
entender.1
Depois da publicação de Memórias póstumas de Brás Cubas, e de Papéis
avulsos no fim de 1882, houve uma mudança na ficção machadiana, que se
tem notado pouco, talvez porque fica evidente primeiro nos contos. Depois
dos cenários meio abstratos e/ou distantes de Papéis avulsos, Machado
começa a situar seus contos num Rio de Janeiro mais ou menos atual — são
contos de outro tipo, realistas, muitas vezes com assuntos difíceis ou
delicados, e ensaiam uma nova gama de efeitos narrativos, de distância,
simpatia, ironia, alusão e humor, tudo isso num contexto histórico mais
recente que o de Memórias póstumas.2
Nos anos seguintes, até 1885 ou 1886, esse novo gênero absorveu
Machado, e ele escreveu boa parte de suas melhores histórias. Mas não
podemos duvidar que sentia a necessidade de escrever um novo romance,
que refletisse o mundo mais contemporâneo dos contos — pode ser até que
estes fossem uma espécie de treinamento consciente para o romance que
seria Quincas Borba. Primeiro, contudo, experimentou uma obra de maior
fôlego, situada num passado relativamente distante (1839) — Casa velha,
publicado em 25 fascículos em A Estação, revista de senhoras; a publicação
da novela acabou em fevereiro de 1886. É uma obra propositadamente
realista, sem sentimentalismo, sutil à sua maneira, e com um narrador que,
embora confiável até certo ponto, por certo não entende sua própria
motivação, seu papel na tragédia doméstica à qual “assiste”. Por uma ou
outra razão, porém — talvez pelo seu tamanho intermediário, nem romance
nem conto —, não foi publicado em forma de livro, e teve que esperar até
bem entrado o século xx para voltar à tona.3
Em junho de 1886, Machado começou a publicação de Quincas Borba,
também em A Estação. Os contos começaram a rarear, sem dúvida em parte
pelos deveres quinzenais do romance. A publicação deste levaria cinco
anos, até setembro de 1891, um período assombrosamente longo para
qualquer romance em forma de folhetim; parece que, quando começou a
publicação, Machado só tinha escrito cerca de um terço do romance. O
processo todo teve suas peripécias e hesitações. Duas vezes, de fato, o
romancista interrompeu a publicação, em 1888 e 1889, por cinco e quatro
meses respectivamente, até resolver problemas fundamentais. Por milagre
— melhor, devido aos esforços de pesquisadores dedicados —, a quase
totalidade dessa versão, publicada numa revista efêmera, sobreviveu, e o
processo todo, com suas dúvidas e ajustes, dos mais fascinantes do século
xix em qualquer país, pode ser consultado, numa edição da Comissão
Machado de Assis.4
Não devemos concluir dessas incertezas do autor, porém, que Quincas
Borba seja um romance falho. A verdade é o oposto: os problemas surgiram
da sua originalidade e das suas altas ambições, que envolvem a obra como
um todo — assunto, estilo, enredo, narração, o conjunto inteiro. No fim,
também, esses problemas encontraram sua resolução necessária, “poética”,
a que “tinha que ter” — ou, pelo menos, é fácil imaginá-lo, tal a perfeição
do romance como obra integral. É esta forma final, Quincas Borba o livro,
que quero considerar nesta introdução. O processo da escrita, das múltiplas
mudanças, grandes e pequenas, que Machado fez, encontra sua razão de ser,
sua explicação, no contexto deste projeto maior. De vez em quando, em
apoio a nosso argumento, assinalaremos algumas dessas mudanças, mas
nosso assunto aqui é o romance final.
O fio central do nosso argumento é que Quincas Borba se entende
melhor como romance realista. Nessa senda, é a continuação, a culminação
dos contos pós-1882, que o preparam em mais de um sentido — de modo
mais óbvio, no seu contexto histórico mais recente; na sua galeria de
personagens femininas, e a dramatização das opções delas, cerceadas pela
instituição do matrimônio; mas também nas sutilezas da sua narração em
terceira pessoa. Nada disso exclui a importância crucial de Memórias
póstumas — mas é preciso sublinhar que o novo romance é um outro
projeto, com parâmetros diferentes. Por isso, como já foi dito,
concentraremos nossa atenção não no introito, mas sobretudo no miolo do
romance, que transcorre no Rio de Janeiro, na história da tosquia de Rubião
pelos seus “recentes amigos”, Palha e Sofia, e nos outros personagens que
os circundam.
Não precisamos de uma definição estreita do realismo para nossa
exploração. Veremos que o romance tem várias camadas ou níveis, que se
harmonizam para produzir o efeito total. Certamente, Machado rejeitou a
forma do realismo mais em voga nesse período — o que nós chamamos de
naturalismo, representado pelos romances de Émile Zola, e os primeiros de
Eça de Queirós. Escreveu uma resenha demolidora de O primo Basílio em
1878; o que odiava neles era a redução dos seus personagens a títeres,
simples produtos da sua sociedade ou da sua herança genética — “não
quero dizer que [Luísa] não tem nervos nem músculos; não tem mesmo
outra coisa”. Mas Machado é sobretudo o herdeiro consciente dos grandes
romancistas das gerações anteriores: de Balzac (comparado favoravelmente
a Eça na mesma resenha), Stendhal (um dos autores evocados para defender
Memórias póstumas no seu prólogo “Ao leitor”), ou Flaubert (também
epiléptico, sofrendo “do mesmo mal, como sabe, o outro…”, como diz
numa das suas derradeiras cartas — e cujo Madame Bovary é parodiado de
forma carinhosa em Quincas Borba).5 Não há nada de estreito nesse
realismo. É social e psicológico; por certo, não exclui um narrador
traiçoeiro; e não exclui também a paródia de outras obras realistas (como no
caso de Madame Bovary). Veremos que depende desses recursos para
estabelecer o seu realismo amplo e antidogmático. Se preferirem, não é uma
doutrina, mas um convite. É o que se verá a seguir. Passaremos por essas
várias camadas, indo (mais ou menos) do mais simples ao mais complexo e
ousado, para dar ao leitor — esperamos — uma visão total do romance, e
uma apreciação dos seus detalhes, às vezes escondidos pelo autor (ou
narrador) que, como diz, “não [se quer] senão com dissimulados” (capítulo
cxxxviii).
A função do mapa do centro do Rio de Janeiro na época do romance,
incluído aqui [pp. 6-7], é ajudar o leitor nesse sentido. Com tal objetivo, ao
longo do romance, situaremos em rodapé os lugares fora do centro, ao norte
e ao sul da capital. O Rio de Janeiro de 1870 era bem diferente da cidade
atual, sobretudo no traçado do centro, mudado radicalmente nos primeiros
anos do século xx, quando foi construída a avenida Central (atual Rio
Branco), que atravessava o coração do velho centro, e foi demolido o morro
do Castelo, onde a cidade foi fundada. As notas, bem detalhadas, também
se destinam a iluminar os vários contextos, literários, políticos, históricos de
Quincas Borba, e facilitar o acesso ao mundo carioca e brasileiro — e
internacional — do romance.
Há um sentido, quase ingênuo, em que o nosso romance é realista: todos
os lugares para onde nos leva, a grande maioria, claro, no Rio de Janeiro —
que cobre praticamente inteiro, da praia Formosa, no norte, até Botafogo,
no sul —, são lugares que Machado tinha visto e visitado; este é o seu
mundo, que conhecia como ninguém. Em certos momentos, o romance
parece até ter um toque pessoal. Num momento curioso, no capítulo lxxxvi,
Rubião perambula ao longo da velha costa ao norte do centro do Rio (que
pouco depois seria destruída para a criação do moderno porto da cidade).
Nesse passeio, assiste a uma cena intrigante, de um “pequerrucho de três
anos” levantado ao ar por um homem de barriga para baixo. A cena parece
inteiramente casual, sem relação com o resto do livro. Será uma lembrança
pessoal, e seria Machado (que passou a juventude ali perto, tendo nascido
no morro do Livramento, junto do Cemitério dos Ingleses) esse
“pequerrucho”? Colocou-se a si mesmo no seu quadro, como se diz que
fizeram Rembrandt, El Greco e outros? Três vezes, o romance sai do Rio —
para Barbacena no começo e no fim, e na viagem de Rubião para a Corte,
em que encontra Palha e Sofia na parada em Vassouras. Numa das suas
raras saídas da capital, Machado tinha ido a Vassouras em 1865, justamente
no trem, que ainda não chegara à cidade, mas que ali chegaria dois anos
mais tarde, para transportar Rubião e seus novos amigos para o Rio; a
conversa, é natural, começa com um comentário à novidade. Em 1891,
pouco antes de terminar o romance, Machado foi a Barbacena com amigos
portugueses e presenciou a tempestade que descreve no final do romance.6
Há outras possibilidades difíceis de provar — há quem diga que a
personagem de D. Fernanda é baseada numa gaúcha que Machado
conheceu —, mas quem sabe?7
São fatos triviais e especulativos talvez, mas levam a assuntos mais
substanciais. Entender um pouco da geografia física e social da cidade do
Rio de Janeiro de quando decorre a ação (1867-71) nos ajuda a entender o
romance — quase a visualizá-lo. Sofia e Palha mudam sem esforço
aparente — assim nos informa o narrador como se fosse de passagem —
dos morros de Santa Teresa (capítulos xxii a liii) para a praia do Flamengo
(capítulo lxix), e finalmente, no capítulo clxxxv, para um palacete em
Botofogo, enquanto Rubião, na sua loucura, vai na direção inversa, do
palacete dele em frente ao Pão de Açúcar para uma “casinha da rua do
Príncipe”, no Catete. Major Siqueira e D. Tonica, entretanto, descem, numa
degradação cômica e cruel, da rua do Senado (próxima ao Campo de
Santana, atual praça da República, capítulo xliii) a um lugar mais perto do
centro, a rua Dois de Dezembro (no Catete, junto ao largo do Machado,
capítulo lxxviii); de lá vão para a rua dos Barbonos, “modesto sobradinho”
(cada vez mais próximo ao centro, e da Lapa, capítulo cxxx) e por fim para
a rua da Princesa, “uma casa assobradada” nos Cajueiros (Siqueira até tem
que informar Rubião sobre o bairro, na atual Zona Norte, próximo ao morro
do Livramento, capítulo clxxx). Às vezes, Machado menciona esses fatos
como se fosse num aparte — nas falas dos personagens, por exemplo,
fazendo com que o narrador não nos “informe” diretamente da mudança.
Claro que isso não significa que esses detalhes não sejam importantes —
bem ao contrário. Num dado momento, o narrador faz um comentário
sarcástico sobre a primeira mudança de Palha e Sofia, de Santa Teresa para
o Flamengo. A burguesia já descobrira que as praias eram mais saudáveis
que os morros, e “talvez”, diz o narrador, isso explique o fato de Sofia não
sofrer de dor de cabeça no capítulo lxxi, depois de dançar com Carlos
Maria. Antes, pelo contrário, ainda em Santa Teresa, no capítulo l, depois
da cantada de Rubião e das revelações desagradáveis do Palha — “Mas,
meu amor, eu devo-lhe muito dinheiro” —, ela rejeita com esse clássico
pretexto a insinuação hesitante do marido — “Vamos, repetiu o Palha,
dando-lhe um beijo na face”. A mera geografia pode levar, por meio de uma
ironia ferina, a dimensões importantes dos personagens e do enredo.
Esses exemplos pequenos, mas precisos, já indicam o sabor do realismo
machadiano. É, muitas vezes, implícito — isto é, não se compraz com
descrições estendidas, preferindo detalhes pequenos, certeiros. Sendo
possível, quase os esconde do leitor, desafiando-o a percebê-los. À
descrição física prefere detalhes vistos através da consciência de alguém (há
um bom exemplo já nos primeiros capítulos, quando Rubião contempla a
enseada de Botafogo), junto com uma variedade muito bem calculada de
diálogos, descrição e especulação psicológicas, e acima de tudo o
comentário irônico que é a marca distintiva do romance. Mas é desses
detalhes, que às vezes o leitor tem que juntar como os pontos de um quebra-
cabeça de jornal, que se constrói o mundo do romance, como veremos.
Esta é uma sociedade em mudança, na qual Sofia, filha de um velho
funcionário público (capítulo xxxv), e Palha, “zangão de praça”
(especulador financeiro) que se destinara a padre (capítulo lxviii), podem
construir seu palacete, já no fim do romance. A sociedade entretanto
também é gangorra, porque uns sobem, outros descem: é o caso de Rubião,