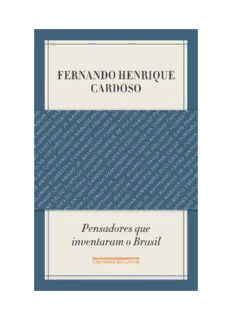Table Of ContentSumário
Apresentação
Joaquim Nabuco
Uma síntese
Um olhar sul-americano
Joaquim Nabuco democrata
Euclides da Cunha
Canudos: o outro Brasil
Paulo Prado
Fotógrafo amador
Gilberto Freyre
Casa-grande & senzala, clássico
Gilberto Freyre, perene
Sérgio Buarque de Holanda
Brasil: as raízes e o futuro
Caio Prado Jr.
A história e seu sentido
Antonio Candido
Um ex-aluno
A fome e a crença: sobre Os parceiros do Rio Bonito
Florestan Fernandes
A paixão pelo saber
Florestan, cientista
Uma pesquisa impactante
Celso Furtado
O descobrimento da economia
A propósito de Formação econômica do Brasil
Raymundo Faoro
Um crítico do Estado: Raymundo Faoro
Epílogo
Livros que inventaram o Brasil
Posfácio, José Murilo de Carvalho
Notas
Cronologia de obras citadas
Créditos das imagens
Apresentação
Este livro contém ensaios e pequenos esboços que escrevi sobre autores que se
dedicaram a explicar a “formação do Brasil”. Alguns destes escritos datam de 35
anos atrás. Nesta categoria estão os perfis publicados na revista Senhor Vogue, em
1978. Outros, mais recentes, são inéditos na forma em que os publico agora.
Entre estes estão ensaios sobre Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre e Raymundo
Faoro. Este último foi escrito especialmente para este volume; os outros dois são
textos que serviram de base para conferências que fiz, respectivamente, na
Academia Brasileira de Letras em março de 2010 e na Festa Literária
Internacional de Paraty (Flip) em agosto do mesmo ano. Os demais capítulos
compõem-se de introduções para a edição de livros de alguns autores ou de
homenagens prestadas a outros que foram posteriormente enfeixadas em livros.
O “Epílogo” é a transcrição revista de aula, que dei em novembro de 1993, aos
alunos do Instituto Rio Branco, quando era ministro das Relações Exteriores.
O leitor perceberá que aqui e ali há repetição de argumentos e que a extensão e
a cadência dos diversos capítulos não é a mesma. Não me servi de texto
previamente escrito quando se tratava de prestar homenagem a pessoas com as
quais convivi e que me influenciaram. Os textos ora publicados são transcrições
de exposições orais, revistos e aprimorados. Por isso, o tom é mais coloquial,
mais familiar, notadamente nos capítulos sobre Antonio Candido (“Um ex-
aluno”) e Florestan Fernandes (“A paixão pelo saber”). Sobre estes mesmos
autores há outros capítulos relativos a suas contribuições acadêmicas. Nestes
adoto um estilo mais convencional.
Os ensaios sobre Nabuco, Freyre e Faoro têm o tom acadêmico habitual neste
tipo de trabalho. Daí por que ao proferir as conferências sobre os dois primeiros
não os tenha lido. São maçudos e longos, portanto cansariam os ouvintes.
Mesmo alguns textos que foram lidos (as circunstâncias de ser presidente da
República dificultavam, por exemplo, digressões orais nas comemorações do
sesquicentenário de Nabuco), não garanto que os haja pronunciado na forma em
que ora são publicados. Sou mau “ledor” e gosto de entremear as leituras com
observações mais espontâneas. Sempre tive inveja de quem tem a capacidade de
escrever textos e de os ler como se fossem peças de teatro representadas por
atores. Mais de uma vez me referi às experiências que tive no ano que passei
como visiting professor em Cambridge, uk, quando ouvi magníficaslectures,
como a de um professor do King’s College, Edmund Leach, intitulada “Once a
knight, is quite enough”, que tive a oportunidade de escutar novamente quando
ele a repetiu em Princeton. Não tenho talento para tanto, daí que escreva uma
coisa, diga outra e, ao rever, publique uma terceira versão do mesmo texto de
base.
Por circunstâncias geracionais e entrecruzamento de vida me beneficiei do
contato direto com vários dos autores cujas obras comento neste livro. É o que
ocorre com Florestan Fernandes, meu professor e de quem fui assistente antes de
sermos colegas e vizinhos de rua, assim como com Antonio Candido, também
professor e mais tarde colega. Nos capítulos em que os homenageio tento
transmitir algo das impressões que ambos me causaram. Tive a ventura de estar
com Celso Furtado nos breves meses em que ele trabalhou na Cepal depois do
golpe de 1964, quando moramos na mesma casa em Santiago e, mais tarde, de
conviver com ele nos períodos em que coincidiu estarmos juntos em Paris no
final dos anos 1960 e na década de 1970. Continuamos a manter relações
próximas na década de 1980, quando Celso foi ministro da Cultura do governo
Sarney e eu era senador. Com Caio Prado convivi no final dos anos 1950 e inícios
da década seguinte, quando ele era o inspirador da Revista Brasiliense, na qual eu
colaborava, sem falar em nossas desventuras de militância ao redor do Partidão.
Já com Sérgio Buarque de Holanda, embora tivesse menos convivência, conheci-
o o suficiente para admirá-lo e para me ter beneficiado de suas críticas nas duas
vezes em que formou parte da banca que me examinou no doutorado e no
concurso de cátedra. Aliás, também Florestan foi, além de incentivador, meu
examinador em teses acadêmicas, e o mesmo posso dizer de Caio Prado, que,
como Sérgio, fez parte da banca de meu doutorado.
Com muito menor familiaridade posso também dizer que vi de perto o jeito,
mais do que o pensamento, de Gilberto Freyre e de Raymundo Faoro, do
primeiro nas poucas vezes que fui a Recife ou nas ocasiões em que, estando ele
em São Paulo, pudemos conversar, e do segundo quando da militância contra o
regime autoritário. Apesar da relativa familiaridade com os autores que comento
neste livro, não posso dizer que pertenço à mesma geração deles. Antes fui
beneficiário das suas descobertas, intuições e análises. Euclides da Cunha, assim
como Paulo Prado, sem falar de Nabuco, deram suas contribuições em épocas
anteriores, mas não deixam de formar parte da mesma “tradição cultural” dos
demais autores mencionados. Em que sentido eles formariam parte da mesma
tradição e até que ponto minha geração participa de outro momento cultural?
Basicamente o que une os autores referidos é a preocupação em analisar a
“formação do Brasil”. Esta obsessão vem de longe, ela data do período da
Independência. Aparece nitidamente em José Bonifácio quando, em vez de se
considerar “português” ou “paulista” — assim como aconteceu com frei Caneca,
“pernambucano” —, passou a se considerar brasileiro e tentou compreender o
que nós, brasileiros, somos; ou melhor, como fazer de todos, inclusive dos
escravos, parte da mesma nação. E acaso Nabuco não estava lutando para que se
desse ao liberto e ao escravo a condição de cidadãos da mesma nação? A questão
nacional daí por diante ocupa a cena central nas reflexões dos pensadores que
inventaram o Brasil, embora, a bem dizer, tenha sido o povo quem o criou. Os
intelectuais passaram a refletir no que consistia esta nação, como ela se situava
no mundo, como se dividia em classes, etnias e culturas, como seria possível
argamassá-las no mesmo conjunto histórico, e no futuro que teria o Brasil no
contexto das demais nações.
Foi no horizonte cultural da questão nacional que os demais temas se foram
afirmando. Ora a questão da sociedade nacional é vista pelo seu revés, quando,
por exemplo, Euclides descobre o sertanejo, que é “um forte”, mesmo que
refratário ao Estado nacional, à República, ou quando Antonio Candido desenha
os mínimos de sociabilidade dos caipiras que quase se esfumam do conjunto
nacional; ora são outras as vertentes que compõem o quadro do país. Por
exemplo, quando Florestan se esforça por entender a “desagregação da ordem
escravocrata” e a formação da sociedade livre e da economia competitiva, ou
quando Freyre esboça seus murais que vão da casa-grande e senzala até aos
sobrados e mocambos, sempre na procura de dar sentido à nossa ordem e ao
nosso progresso.
Por certo, no contexto da formação nacional o tema Estado-burocracia-
corporação versus sociedade civil e mercado se destaca como uma das
preocupações centrais dos que querem entender como se forma a nação. Uns
creem que a alavanca é o Estado, outros, que são as classes. Os dois lados,
entretanto, convergem para um ponto: trata-se de afirmar um país, uma nação.
Afirmar pelo que há de genuinamente nosso ou foi assimilado por nós e nos
diferencia como povo e como cultura; afirmar-nos em contraposição aos
“outros”. O perigo vem de fora, seja sob o manto da exploração econômica e
mesmo do imperialismo, seja pelos riscos do cosmopolitismo e da
ocidentalização cultural.
Caio Prado, escrevendo sobre o período colonial, colocara uma questão
fundamental: a Colônia existiu em conexão com a expansão do capitalismo
comercial e mesmo como consequência desta. Não se deve pensá-la, portanto, à
margem de condicionantes que ultrapassam suas fronteiras. O latifúndio e a
escravidão marcam as características do período, mas o sentido da colonização
não se esgota nas bases sociais locais da exploração econômica, na escravidão e
na concentração da propriedade. Ele só se completa e ganha inteligibilidade
quando remetido à questão mais geral das relações com a Metrópole. Celso
Furtado, muito mais tarde, no período de obsessão nacional-desenvolvimentista,
quando a nação já existia, vai dar sequência a esta visão: se quisermos romper os
laços da dominação internacional e se quisermos superar o “atraso”, teremos de
entender a dinâmica dos mercados internos, suas possibilidades de superação do
status quo e suas limitações, mas no quadro internacional. Ao analisar estes
aspectos, Celso vai reafirmar o que outros haviam indicado: as bases econômicas
e sociais do condicionante local eram estreitas para aceder ao capitalismo dos
“grandes”. A referência ao local não se esgota em si mesma, requer o rebatimento
no outro polo, o externo. De toda maneira, a temática continua girando ao redor
da questão nacional, consistindo em ver como criar no polo negativo da relação
externo-interno, isto é, no interno, força suficiente para alavancar, catapultar
mesmo, o país para o “Centro”. Essas eram as grandes questões dos pensadores
que inventaram o Brasil.
Ocorre que o Brasil desses pensadores já fora “inventado”, prática e
intelectualmente, quando minha geração começou a se debruçar sobre as formas
da sociedade brasileira, suas conexões internacionais e seus novos desafios. O
horizonte intelectual-ideológico da “questão nacional”, de certa maneira, se havia
esgotado. Pusemo-nos a escarafunchar e a detalhar a classe operária, a
urbanização, os empreendedores capitalistas (burgueses?), a cultura de massas,
os “marginais” — os excluídos — no campo e na cidade, os militares, as
corporações multinacionais, enfim, o novo panorama do país. Mais ainda, com o
autoritarismo militar não só o tema da sociedade civil com suas ongs, igrejas
renovadas e opinião pública reprimida, mas a própria questão democrática (que
aparece escassamente nos autores anteriores, sendo Sérgio Buarque a mais
notável exceção, embora não a única) passam a competir com a paixão
preexistente por entender a questão nacional. Já não bastava repetir o mote do
subdesenvolvimento econômico, havia que olhar para a incompletude
institucional, a falta da democracia. A questão do Estado como alavanca do
crescimento econômico e de sua alternativa, a do mercado como polo propulsor
dele, misturava-se com a questão democrática e esta com a da justiça, sobretudo
a social, com o tema da desigualdade.
Quando começaram a produzir intelectualmente, as gerações posteriores às
dos pensadores que “inventaram” o Brasil se encontraram com uma nação já
formada, embora diferente daquela do sonho de seus precursores. As classes e
seus segmentos (as “classes médias emergentes”, a diminuição relativa do peso
do “campesinato” etc.) já tinham face mais clara, o Estado se dinamizara e
começava a ser contemporâneo, quer dizer, a entrar em contato com outros
Estados, sem temê-los nem ameaçá-los, para assegurar pactos que permitissem
maior expansão dos nossos interesses. O dinamismo do mercado provinha, ao
mesmo tempo, de forças internas e externas. O papel atribuído pela ideologia
nacional-desenvolvimentista aos “empresários nacionais” ficara embaçado pela
associação destes com as multinacionais* e, mais recentemente, a partir dos anos
1990, pela presença de multinacionais “brasileiras”, fenômeno que seria
impensável no passado.
Sem que tivéssemos muita consciência do processo em curso, minha geração
teve que lidar com outro momento do desenvolvimento mundial do capitalismo,
chamado de globalização. No livro que escrevi com Enzo Faletto, Dependência e
desenvolvimento na América Latina, tateávamos o tema sem muita clareza. Nós
nos apercebêramos de que um “projeto nacional” nos termos propostos pela
ideologia nacional-desenvolvimentista tinha escassas possibilidades de êxito,
embora progresso econômico e mesmo aumento de bem-estar coletivo pudessem
existir. Ainda assim, ao retornar ao Brasil no final da década de 1960 e talvez
ainda durante a década de 1980, eu não me havia dado conta da magnitude das
modificações no panorama mundial. Foi preciso sentir as consequências práticas
e ideológicas da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética e,
portanto, da Guerra Fria, bem como, mais tarde, da forma chinesa de socialismo
“harmonioso”, isto é, da economia sob o controle do Estado chinês em
associação com as multinacionais e demais forças de mercado, para entender que
o sonho que eu acalentava de escrever um Grande indústria e favela não tinha
mais sentido. O mundo era outro e a dispersão produtiva global suscitada por
novas tecnologias tornou as classes locais e o Estado nacional agentes que
competem com outros agentes (as corporações multinacionais e os organismos
internacionais) e com redes globais que ligam pessoas e grupos pelo universo
afora.
Neste novo contexto, é preciso inventar outro futuro para o Brasil que, sem
negar a importância das temáticas do passado e os feitos concretos que delas
resultaram, nem a identidade nacional que eles produziram, abra caminhos para
compatibilizar os interesses nacional-populares com a inserção econômica
global. Nesta os clusters produtivos e as redes sociais interconectadas poderão
(ou não...) servir aos interesses nacionais, mas em novos patamares e de novas
maneiras. A questão nacional não poderá ser pensada apenas do ângulo
econômico e estatal, nem de modo isolado, como se o país fosse, em si, uma
unidade autônoma para a reflexão. As novas percepções ideológico-culturais
terão de englobar as reivindicações democráticas, os anseios de maior inclusão
social e as novas formas de participação cidadã para serem contemporâneas do
futuro. ** A lupa que permite ver quem somos e como somos precisa do
complemento de telescópios que nos situem no universo mais amplo, sem cujo
desvendar a visão de nossa identidade fica pouco nítida.
* Eu antevi esta tendência em 1964 emEmpresário industrial e desenvolvimento econômico no Brasil (São
Paulo: Difel, 1964. 196 pp. Coleção Corpo e Alma do Brasil, 13); mais tarde, falei de “desenvolvimento
dependente-associado” para qualificá-la.
** Em artigo recente Marcos Nobre apresenta uma abordagem e uma periodização da história das ideias que
merecem reflexão. Ver Marcos Nobre, “Depois da ‘formação’”, revista piauí, n. 74, nov. 2012, pp. 74-7.
Description:Antes de assumir uma cadeira no Senado Federal, em 1983, e assim efetivamente iniciar uma trajetória política culminada por dois mandatos presidenciais consecutivos, o sociólogo e professor Fernando Henrique Cardoso militou no debate público sobretudo por meio de intervenções na imprensa escri