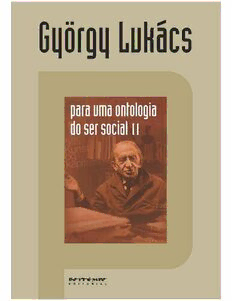Table Of ContentSobre Para uma ontologia do ser social II
Ricardo Antunes
Com a publicação deste segundo volume de Para uma ontologiado ser social, conclui-se o
excepcional empreendimento intelectual de maturidade de György Lukács. Depois de elaborar, no
primeiro volume, a sua crítica lógico-ontológica ao neopositivismo, ao existencialismo e a
Hartmann e Hegel, além de apresentar sua autêntica (re)descoberta da ontologia materialista de
Marx, Lukács realizou uma decisiva inversão no processo de conhecimento, cuja regência deve ser
encontrada na lógica fundante do objeto. Neste volume, a crítica ontológica se debruça para
desvendar os complexos categoriais decisivos do ser social: o trabalho, a reprodução, o momento
ideal (e a ideologia) e o estranhamento. Sendo impossível desenhar aqui a riqueza e a
complexidade desse movimento – verdadeiro marco na filosofia marxista do século XX –, basta
indicar que Lukács foi o primeiro a recuperar a profunda dialética presente no trabalho humano,
contra unilateralizações, dualismos e simplificações que banalizaram a temática por um longo
período.
Pelo papel central na gênese do ser social, no seu ir-sendo e no vir-a-ser, Lukács pode, na
primorosa linhagem aberta por Marx, mostrar que o trabalho, mesmo quando se conforma como
um trabalho estranhado, não elimina definitivamente sua dimensão de atividade vital. Em termos
marxianos, o trabalho abstrato subordina o trabalho concreto ao mesmo tempo que o preserva.
Assim, Lukács supera não só toda uma escola desconstrutora do trabalho – conhecida pelas teses
do “fim do trabalho” – como também aqueles que, ao recusarem justamente as várias modalidades
de alienação e estranhamento, fazem-no através do desencanto do trabalho, do advento do reino
das melancolias e, last but not least, do sepultamento das potencialidades emancipadoras das forças
sociais do trabalho.
Em sua Ontologia, Lukács foi, é preciso enfatizar, excepcionalmente único em seu labor
intelectual. Em um patamar muito superior ao já belíssimo História e consciência de classe, o que
parecia uno se torna múltiplo; o que se apresentava como estático se converte em movimento; o que
carregava ainda alguma herança ideal típica passa a ser contraditório e dialético. Mas, como não
há trabalho sem reprodução da vida social, o passo seguinte dos complexos sociais do ser foi
desvendar o tema da reprodução societal, sem o qual a socialidade humana estaria obstada. A
divisão social, a educação, a fala, a alimentação, a sexualidade e o direito, dentre tantos outros
elementos vitais para a efetividade do ser social, são tratados aqui a partir de uma ontologia
singularmente social e humana. Trabalho e reprodução tornam-se intrinsecamente inter-
relacionais, recusando-se qualquer dualismo.
Indicadas essas duas categorias sociais determinantes do ser, Lukács oferece a efetiva
compreensão da ontologia do momento ideal – e, dentro desta, do problema crucial da ideologia.
Aqui, bastaria dizer que, contraditando a quase totalidade do marxismo que reduziu o problema
da ideologia a sinônimo de falsa consciência (concebida equivocamente, de modo
hiperdimensionado e isolado), Lukács recuperou o autêntico sentido humano positivo dado pelo
momento ideal, que não apenas desempenha como é responsável por atitudes, ações e mudanças
humanas decisivas, das quais as revoluções são exemplares. Para Lukács, a falsa consciência é,
portanto, um momento do complexo ideal e da ideologia, e não sinônimo desta.
Assim, o quarto complexo categorial volta-se para compreender o intrincado fenômeno social
do estranhamento que desefetiva o ser social. Com a vigência do mundo da mercadoria em sua
espectral objetividade, o estranhamento, que nada tem de “natural”, torna-se um fenômeno social
decisivo para a modernidade e sua superação. Aqui, as indicações são tão seminais que bastaria
lembrar que devemos ao filósofo húngaro, esse verdadeiro Galileu do século XX, as refinadas
diferenciações entre as coisificações inocentes e as coisificações estranhadas: as primeiras emergem
antes da vigência dominante da forma-mercadoria, ao passo que as segundas são típicas da fase de
predominância do fetichismo da mercadoria. Trata-se, portanto, de uma pista excepcional para
avançarmos na compreensão dos estranhamentos e das alienações que povoam a socialidade
contemporânea.
Sobre Para uma ontologia do ser social II
A contribuição de Lukács com Para uma ontologia do ser social não foi ainda suficientemente
analisada. Certamente que ela não passa sem problemas, nem é, também certamente, a solução
para um renascimento do marxismo. Mas em relação a esta obra se pode afirmar, com inteira
segurança, que abre um novo horizonte teórico-filosófico para o desenvolvimento do marxismo e
que não haverá nenhum renascimento do marxismo se ela for ignorada. – José Paulo Netto
A Ontologia tem como objetivo elaborar uma teoria da completa emancipação humana, da
superação da mera singularidade particular (o individualismo burguês) em direção àquilo que,
para o homem, é a sua essência, o realmente humano. – Guido Oldrini
A Ontologia de Lukács é a mais ambiciosa e a mais importante reconstrução filosófica do
pensamento de Marx que foi possível registrar nos últimos decênios. – Nicolas Tertulian
Ninguém pode contestar o fato de que a Ontologia representa uma virada no marxismo. –
Frank Benseler
Sumário
Nota da editora
Em busca das raízes da ontologia (marxista) de Lukács - Guido Oldrini
Segunda Parte: Os complexos de problemas mais importantes
I. O trabalho
1. O trabalho como pôr teleológico
2. O trabalho como modelo da práxis social
3. A relação “sujeito-objeto” no trabalho e suas consequências
II. A reprodução
1. Problemas gerais da reprodução
2. Complexo de complexos
3. Problemas da prioridade ontológica
4. A reprodução do homem na sociedade
5. A reprodução da sociedade enquanto totalidade
III. O ideal e a ideologia
1. O ideal na economia
2. Sobre a ontologia do momento ideal
3. O problema da ideologia
IV. O estranhamento
I. Os traços ontológicos gerais do estranhamento
2. Os aspectos ideológicos do estranhamento
3. A base objetiva do estranhamento e da sua superação
Índice onomástico
Referências bibliográficas
Sobre o autor
E-books da Boitempo Editorial
Nota da editora
Em 2010, a Boitempo lançou-se a uma empreitada editorial de fôlego: a tradução e publicação
das obras do filósofo húngaro György Lukács. Nesse ano, lançou Prolegômenos para uma
ontologia do ser social, em 2011 deu continuidade ao trabalho com O romance histórico e em
2012 editou mais duas obras: Lenin: um estudo sobre a unidade de seu pensamento e o
primeiro volume de Para uma ontologia do ser social, cujo segundo tomo o leitor tem agora em
mãos. O trabalho editorial deste volume volta a contar com a dedicação de dois profissionais
competentes: o tradutor Nélio Schneider e o revisor técnico Ronaldo Vielmi Fortes. Nessas
funções, eles foram responsáveis pelos capítulos II, III e IV, traduzidos diretamente da edição
alemã (Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, segunda parte, “Die wichtigsten
Problemkomplexe”, Darmstadt, Luchterhand, 1986, Werke, v. 14). O capítulo I tem por base
uma tradução já existente e bastante conhecida, feita por Ivo Tonet, da edição italiana (Per
l’ontologia dell’essere sociale, segunda parte, Roma, Riuniti, 1981), com revisão de Pablo
Polese. Para esta edição, ele teve uma revisão da tradução de Nélio Schneider e foi
parcialmente retraduzido por Ronaldo Vielmi Fortes, com base na edição alemã.
Da mesma forma que nas publicações alemã e italiana, a edição brasileira de Para uma
ontologia do ser social – conhecida também como Grande ontologia – foi editada em mais de
um volume, seguindo a ordem das partes em que se divide o livro original. Por isso, toda vez
que Lukács mencionar “a primeira parte do livro”, o leitor deve entender que se trata, aqui, do
primeiro volume. Para fins de registro: os Prolegômenos para uma ontologia do ser social –
conhecidos, por sua vez, como Pequena ontologia –, que acompanham a primeira parte da
Grande ontologia em alemão, foram em português publicados em volume autônomo, como em
italiano.
Por se tratar da edição de um manuscrito, as notas de rodapé foram mantidas, com poucas
alterações, da mesma forma que no original alemão, motivo pelo qual muitas vezes as
referências bibliográficas encontram-se resumidas. Entre as poucas alterações feitas, destaca-se
a inclusão, entre colchetes, do nome do autor e do título do livro, quando não havia, para evitar
dúvidas e a fim de que as referências completas possam ser buscadas na bibliografia localizada
ao final do livro, elaborada após cuidadosa pesquisa – por tratar-se de obras às vezes muito
antigas, contudo, algumas vezes foi inviável indicar seus dados completos. Sempre que possível
foram mencionadas edições brasileiras: inclusive, no caso de citações, suas páginas
correspondentes também foram indicadas. Indicações de obras com data de publicação
posterior à morte de Lukács foram incluídas pelo editor alemão, a fim de indicar referências
mais atuais ao leitor da época.
Eventuais interferências da equipe técnica ou da editora no texto de Lukács foram
sinalizadas pelo uso de colchetes. Inserções do próprio Lukács em citações de outros autores
também vêm entre colchetes, mas acompanhadas da sigla “G. L.”. As notas de tradução “(N.
T.)”, de revisão técnica “(N. R. T.)”, da edição brasileira “(N. E.)” e da edição alemã “(N. E.
A.)” vêm sempre precedidas de asteriscos; as notas do autor seguem a numeração da edição
original alemã.
Por fim, um esclarecimento de natureza conceitual: os tradutores mantiveram a opção de
traduzir, neste segundo volume, os termos alemães Entfremdung, entfremden etc. por
“estranhamento”, “estranhar” etc., reservando os termos “alienação”, “alienar” etc. para
Entäusserung, entäussern etc.
Mais uma vez, a Boitempo expressa seu reconhecimento aos profissionais diretamente
envolvidos, sem os quais não teria sido possível concluir este trabalho, e aos acadêmicos
lukacsianos Ricardo Antunes, autor do texto de capa, e Guido Oldrini, autor da Apresentação.
A editora agradece também aos presidentes das fundações Maurício Grabois e Perseu Abramo,
respectivamente Adalberto Monteiro e Marcio Pochmann, cujo apoio foi indispensável para
tornar pública esta obra que, segundo o filósofo romeno Nicolas Tertulian, é a mais ambiciosa
reconstrução filosófica do pensamento marxiano registrada na segunda metade do século XX.
Em busca das raízes da ontologia (marxista) de Lukács[a]
Guido Oldrini
Quem pretende estudar as grandes obras finais de Lukács depara, antes de tudo, com uma
arraigada (e, sob certos aspectos, relativamente justificada) desconfiança dos estudiosos para
com aquele que é seu eixo central: o conceito de “ontologia”. Digo relativamente justificada
porque a ontologia, como parte da velha metafísica, carrega consigo uma desqualificação que
pesa sobre ela há pelo menos dois séculos, após a condenação inapelável de Kant. Somente
com o seu “renascimento” no século XIX, ao longo da linha que vai de Husserl até Hartmann,
passando pelo primeiro Heidegger, é que ela toma um novo caminho, abandonando qualquer
pretensão de deduzir a priori as categorias do real, referindo-se criticamente, desse modo, ao
seu próprio passado (ontologia “crítica” versus ontologia dogmática). Lukács parte daí, mas vai
além: não só critica a ontologia “crítica” de tipo hartmanniano (sem falar de Husserl e
Heidegger), como também desloca o centro gravitacional para aquele plano que ele define
como “ontologia do ser social”.
Surge, desse modo, uma ontologia crítica marxista, acolhida de imediato com a suspeita e a
desconfiança de que falei por representantes de todas as orientações da literatura crítica,
filósofos analíticos, neopositivistas, fenomenólogos, leigos como Jürgen Habermas,
espiritualistas como Ernst Joós, mas também, na primeira linha, por marxistas ortodoxos
(desde o velho W. R. Bayer, que já em 1969, antes mesmo que fosse publicada, se
desembaraçava dela sem muitos incômodos, como de uma “criação idealista em voga”, até os
muitos ataques dos expoentes da ortodoxia burocrática da República Democrática Alemã,
como Ruben e Warnke, Kiel, Rauh, La Wrona etc., que se estenderam até os anos 1980). A
Ontologia, apesar dos chamamentos e comentários dos intérpretes mais atentos (penso
especialmente nos trabalhos de Nicolas Tertulian), teve bastante dificuldade para se impor e
somente há pouco tempo começou a obter o lugar que lhe é devido, além de seu justo
reconhecimento historiográfico. Hoje vale tranquilamente o que afirmou seu editor, Frank
Benseler, no volume publicado em 1995 na Alemanha, na ocasião de seu próprio aniversário de
65 anos, com o título de Objektive Möglichkeit [Possibilidade objetiva]: “Ninguém pode
contestar o fato de que ela representa uma virada no marxismo”[1]. As acolhidas negativas e as
reservas antes apontadas são uma prova a contrario.
A Ontologia constitui uma “virada” para o próprio Lukács, quando confrontada com suas
posições marxistas juvenis, como as que podemos encontrar em História e consciência de
classe; no entanto, não no sentido de que seria fruto de uma brusca e inesperada inversão de
rota, de uma reviravolta que se teria verificado de improviso, sem preparo, na última década da
vida do filósofo. Pelo contrário, por trás dela há uma longa história, que merece atenção, e cujas
premissas pretendo rastrear com grande cautela, já que, até agora, a crítica praticamente não
tratou desse assunto[2]. Com efeito, os intérpretes se concentraram muito mais sobre o antes e
o depois da “virada” ontológica de Lukács. Os que estudaram as fases intermediárias de
desenvolvimento, por exemplo os escritos berlinenses ou moscovitas, ou aqueles da volta à
Hungria no pós-guerra, fizeram-no, no mais das vezes, isolando-os do seu contexto mais amplo,