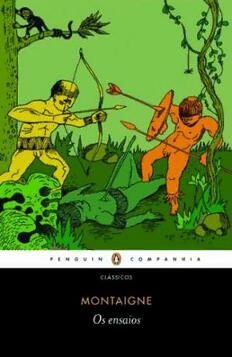Table Of ContentOS ENSAIOS
MICHEL EYQUEM, SEIGNEUR DE MONTAIGNE, nasceu em 1533, filho e herdeiro de Pierre,
Seigneur de Montaigne (dois filhos anteriores morreram após o nascimento). Foi educado
falando latim como primeira língua, e sempre conservou uma disposição de espírito latina;
embora conhecesse o grego, preferia usar traduções. Depois de estudar direito, finalmente
tornou-se conselheiro do Parlamento de Bordeaux. Casou-se em 1565. Em 1569, publicou
a sua versão francesa de Theologia naturalis, de Raymond Sebond; o seu Apologie é
apenas em parte uma defesa de Sebond, em que estabelece limites céticos para o
raciocínio humano sobre Deus, o homem e a natureza. Em 1571, mudou-se para sua terras
em Montaigne, dedicando-se à leitura, à reflexão e à composição de seus Ensaios
(primeira versão, 1580). Montaigne tinha aversão ao fanatismo e às crueldades do período
das guerras religiosas, mas apoiava a ortodoxia católica e a instituição monárquica. Duas
vezes foi eleito prefeito de Bordeaux (1581 e 1583), cargo que ocupou por quatro anos.
Morreu em Montaigne, em 1592, enquanto preparava a edição final, e a mais rica, de seus
Ensaios.
ROSA FREIRE D’AGUIAR nasceu no Rio de Janeiro. Nos anos 1970 e 1980 foi correspondente
em Paris das revistas Manchete e IstoÉ. Retornou ao Brasil em 1986 e no ano seguinte
traduziu seu primeiro livro, para a editora Paz e Terra: O conde de Gobineau no Brasil, de
Georges Raeders. Em mais de vinte anos de atividade, verteu mais de sessenta títulos nas
áreas de literatura e ciências humanas. Além do francês, idioma do qual transpôs para o
português, entre outros, Céline, Orsenna, Lévi-Strauss, Debret e Balzac, traduz do
espanhol e do italiano, línguas que também aperfeiçoou durante os anos de jornalista na
Europa. Sua língua de preferência, no entanto, é mesmo o idioma de Montaigne, autor que
ela pretendia traduzir desde os anos 1990, não só pelo conteúdo humanista dos Ensaios
mas pelo desafio de traduzir um texto de quatro séculos de modo a conquistar o leitor de
hoje. Acredita que o tradutor é um ser “obcecado” e “duvidante” e que uma boa tradução
depende, também, da empatia entre tradutor e autor. Entre os prêmios que recebeu estão o
da União Latina de Tradução Científica e Técnica (2001) por O universo, os deuses, os
homens (Companhia das Letras), de Jean-Pierre Vernant, e o Jabuti (2009) pela tradução
de A elegância do ouriço (Companhia das Letras), de Muriel Barbery.
MICHAEL ANDREW SCREECH nasceu em 1926. É membro honorário do Wolfson College e
professor emérito do All Souls College, de Oxford (fellow e capelão em 2001-3), membro
da British Academy, da Royal Society of Literature, da University College, Londres, e
membro correspondente do Institut de France. Trabalhou muito tempo no comitê do
Warburg Institute como professor de língua e literatura francesa na University College,
Londres, até sua eleição para o All Souls, em 1984. É especialista em Renascimento, de
renome internacional. Editou e traduziu os Ensaios completos de Montaigne para a
Penguin Classics e, num volume separado, o ensaio Apologie de Raymond Sebond. Seus
outros livros incluem Erasmus: ecstasy and the praise of folly (Penguin, 1988), Rabelais,
e Montaigne and melancholy (Penguin, 1991) e, mais recentemente, Laughter at the foot
of the cross (Allen Lane, 1998); todos são reconhecidamente estudos clássicos. Trabalhou
com Anne Screech em Erasmus’ annotations on the new testament. Michael Screech é
Cavaleiro da Ordre du Mérite (1982) e Cavaleiro da Légion d’Honneur (1992). Em
Oxford, ordenou-se diácono em 1993 e padre em 1994.
ERICH SAMUEL AUERBACH nasceu em 1892 na Alemanha, em uma família burguesa de
origem judia. Estudou direito em Heidelberg e, em 1914, ingressou no curso de filologia
românica em Berlim. Em 1921, defendeu sua tese de doutorado sobre a técnica da novela
no Renascimento francês e italiano.
Em 1923, começou a trabalhar na Biblioteca Estatal Prussiana, em Berlim, e seis anos
depois tornou-se professor de filologia românica na Universidade de Marburg. É desse
período um de seus estudos mais importantes, Dante, poeta do mundo secular. Em 1935,
durante o regime nazista na Alemanha, foi demitido do cargo em Marburg. Exilado,
passou a lecionar na Universidade de Istambul.
Foi na Turquia, durante a Segunda Guerra Mundial, que escreveu a coletânea de ensaios
Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental (1946), considerada uma
das mais importantes obras de crítica literária do século XX.
Ao final da Segunda Guerra, emigrou para a América. Nos Estados Unidos, foi professor
da Universidade da Pensilvânia, pesquisador em Princeton e professor de teoria literária e
literatura comparada na Universidade Yale. Faleceu, em New Haven, Connecticut, em
outubro de 1957.
MICHEL
DE MONTAIGNE
Os ensaios
Uma seleção
Organização de
M. A. SCREECH
Tradução e notas de
ROSA FREIRE D’AGUIAR
Sumário
Introdução — Erich Auerbach
Nota da tradutora
OS ENSAIOS
Ao Leitor
LIVRO PRIMEIRO
I Por meios diversos se chega ao mesmo fim
VIII Sobre a ociosidade
XV Sobre a punição da covardia
XVII Sobre o medo
XIX Que filosofar é aprender a morrer
XXV Sobre a educação das crianças
XXVI É loucura atribuir o verdadeiro e o falso à nossa competência
XXX Sobre os canibais
XXXI Que é preciso prudência para se meter a julgar os decretos divinos
XXXVIII Sobre a solidão
LVI Sobre as orações
LVII Sobre a idade
LIVRO SEGUNDO
I Sobre a inconstância de nossas ações
II Sobre a embriaguez
V Sobre a consciência
VIII Sobre a afeição dos pais pelos filhos
XI Sobre a crueldade
XXXII Defesa de Sêneca e de Plutarco
XXXV Sobre três boas esposas
XXXVII Sobre a semelhança dos filhos com os pais
LIVRO TERCEIRO
II Sobre o arrependimento
III Sobre três relações
V Sobre versos de Virgílio
VI Sobre os coches
XI Sobre os coxos
XIII Sobre a experiência
Cronologia
Outras leituras
Índice remissivo
O escritor Montaigne1
ERICH AUERBACH
Montaigne era filho de pai gascão e mãe judia espanhola. A família era rica e estimada: o
avô Eyquem, comerciante de peixes em Bordeaux, comprara o feudo nobiliário de
Montaigne, na Guyenne; o pai, soldado e nobre, alcançou o cargo de prefeito de Bordeaux.
Michel é seu sucessor em todos os aspectos exteriores: herdeiro do patrimônio, soldado,
administrador, viajante, bom pai de família e finalmente maire de Bordeaux. Também
quanto ao físico é filho de seu pai, de quem herdou a constituição robusta, o temperamento
sanguíneo e a predisposição à litíase. Mas os tempos haviam se tornado mais difíceis. O
pai viveu na época dourada das campanhas militares na Itália; o filho, em meio à terrível
turbulência causada pela crise huguenote, a última a ameaçar a estabilidade nacional da
França. A questão religiosa teve início na década de 1550, época em que Montaigne mal
atingira a idade adulta, e terminou por volta de 1600, com a vitória de Henrique IV, poucos
anos após a morte do escritor. Na segunda metade do século XVI, a era de Filipe da
Espanha e Elizabeth da Inglaterra, a França é palco de um sangrento turbilhão de
acontecimentos e de uma inquietante anarquia dos ânimos.
Sobre uma base tão instável como essa, Montaigne levou uma vida cujo equilíbrio
jamais foi abalado. Em sua juventude, talvez tenha conhecido a ambição e a ansiedade,
talvez a paixão e certamente a amizade em sua expressão mais autêntica. Mas na época em
que o conhecemos, isso há muito já é passado. Com 38 anos, ele se recolhe à vida privada,
e daí em diante sua atividade externa restringe-se à defesa de seu patrimônio. Administra-
o com prudência, sem medo nem rigidez, por vezes cedendo um pouco, com espírito e
sem uso da força, mas de modo firme e resoluto.
Qual era o patrimônio que devia resguardar? Primeiro, suas posses, sua família e sua
segurança. Mas isso é o de menos: defendia-os de modo sereno e cordial, com alguns
gestos hábeis. É divertido ler como consegue desarmar os bandos de saqueadores com sua
postura digna e segura, com seu simples modo de agir. Mas se o fardo se fizesse pesado
demais, se tais obrigações viessem a lhe exigir muito, estaria disposto a abandoná-las. O
verdadeiro objeto de sua defesa é seu cerne interior, o esconderijo de seu espírito, a
arrière-boutique que soube conservar para si. Il faut faire comme les animaux, qui effacent
la trace à la porte de leur tanière.2 É preciso fazer como os animais, que apagam seu
rastro na porta da toca.
E isso não vale apenas para sua vida exterior. Montaigne era um homem de coração
aberto, expansivo e hospitaleiro; não recusava a aventura; não se abandonava, mas
prestava-se de bom grado. Estava atento às novidades e chegava mesmo a ser um pouco
esnobe; passava-se por mais nobre do que era de fato e sabia fazer notar da maneira mais
discreta possível sua elevada posição social. Sua autocrítica e autoironia estão cheias de
um orgulho simpático. Não é de forma alguma um eremita; é apenas um homem
reservado, que por vezes gosta de estar em boa companhia. Mas a arrière-boutique de seu
ser interior é inacessível: aí está sua verdadeira morada, ali se sente em casa; em prol da
segurança e do conforto desse refúgio concentra-se toda a atividade do homem mais sagaz
de seu tempo.
Montaigne possuía um sentido pronunciado de decoro e lealdade. Tivera um pai bom e
inteligente, uma infância feliz e uma juventude livre; não era próprio de seu temperamento
ter pensamentos malevolentes ou agir de modo baixo, não esperava que os outros o
fizessem e acabava por se enganar, como vira acontecer a seu pai. Fazia parte dessa
lealdade servir ao rei, ser agradável aos amigos e proteger a própria família; era preciso
ser humano e espontâneo com os inferiores e franco e respeitoso com os superiores. Fazia
parte da lealdade respeitar as regras e os costumes, e seria insensatez acreditar que com
uma conduta oposta se pudesse causar algo além de desordem. Não era conveniente, e
seria mesmo inútil, incômodo e inoportuno, diferenciar-se de modo notável dos outros
homens da mesma classe, faltar com os deveres ou mesmo assumir voluntariamente
encargos descabidos. Talvez também lhe fosse agradável comprovar como se pode exercer
um cargo ou administrar um negócio a que não se pode fugir de forma tão boa ou melhor
do que os outros — sem para isso ter que se esforçar ou dedicar-se em excesso. A
condição era essa. Si quelquefois on m’a poussé au maniement d’affaires estrangères, j’ay
promis de les prendre en main, non pas au poulmon et au foye.3 Se por vezes me
compeliram à administração de negócios alheios, prometi manejá-los com cuidado, mas
sem levá-los a peito.] Montaigne agiu desse modo mesmo quando, numa época difícil, foi
quase coagido a se tornar maire de Bordeaux. Foi um bom pai para sua família, um
francês leal e um homem versado nas grandes questões de seu tempo; se não veio a ser um
personagem de destaque na corte, isso deveu-se tão somente a ele. Não o foi porque não
quis. Defendia-se contra tudo que lhe impunha deveres além do necessário: frente ao rei,
aos amigos, aos burgueses de Bordeaux, à sua família. Defendia-se contra vínculos
coercivos com a mesma obstinação e gentileza com que se defendia contra os inimigos
externos.
Montaigne defende sua solidão interior. Mas o que significa isso para ele? O que a
torna tão valiosa? A solidão interior é sua própria vida, seu existir em si e consigo mesmo,
sua casa, seu jardim e sua câmara de tesouros. Para lá carrega tudo o que conquistou de
precioso em suas andanças pelo mundo; lá elabora e impregna tudo com o tempero de seu
ser. O que é e a que serve essa solidão? Não se trata de uma fuga do mundo no sentido
cristão, e tampouco de ciência ou filosofia. É algo que ainda não tem nome. Montaigne
abandona-se a si mesmo. Dá livre curso a suas forças interiores — mas não somente ao
espírito: o corpo também deve ter voz, pode interferir em seus pensamentos e até nas
palavras que ele se põe a escrever.
Comparados a ele, os grandes espíritos do século XVI — os promotores do
Renascimento, do Humanismo, da Reforma e da ciência que criaram a Europa moderna —
são todos, sem exceção, especialistas. Teólogos ou filólogos, astrônomos ou matemáticos,
artistas ou poetas, diplomatas ou generais, historiadores ou médicos: em sentido lato, são
todos especialistas. Alguns se especializaram em várias áreas; Montaigne, em nenhuma.
Não é absolutamente um poeta. Estudou ciências jurídicas, mas era um jurista indiferente,
e suas declarações sobre os fundamentos do direito, embora significativas de outro ponto
de vista, não possuem nenhum valor específico para a matéria. Toda a sua atividade
prática não tem nenhuma relação profissional com sua produção intelectual. Muitas vezes
aquela fornece o material para seus pensamentos. Mas tais pensamentos não são de grande
importância para nenhuma disciplina específica; não têm caráter jurídico, nem militar,
nem diplomático, nem filológico, embora retirem de todos esses campos e outros mais sua
encantadora concretude. E também não são propriamente filosóficos: falta-lhes todo
sistema ou método. Montaigne permanece leigo mesmo onde parece compreender algo do
assunto — em pedagogia, por exemplo. É difícil acreditar que ele quisesse aprofundar-se
seriamente numa das matérias de que trata casualmente. E, seja como for, suas realizações
não dizem respeito a nenhuma delas. Ainda hoje é difícil definir em que consistem, e é
quase incompreensível que tenham alcançado repercussão em sua época. Pois toda
realização necessita de um destinatário que lhe dê algum valor, todo sucesso necessita de
um público. O público dos Ensaios de Montaigne não existia, e ele não podia supor que
existisse. Não escrevia nem para a corte nem para o povo, nem para os católicos nem para
os protestantes, nem para os humanistas nem para alguma outra coletividade já existente.
Escrevia para uma coletividade que parecia não existir, para os homens vivos em geral
que, como leigos, possuíam uma certa cultura e queriam compreender sua própria
existência, isto é, para o grupo que mais tarde veio a se chamar de público culto. Até esse
momento, a única coletividade existente — sem considerar as guildas, os estamentos e o
Estado — era a comunidade cristã. Montaigne dirige-se a uma nova coletividade e, ao
fazê-lo, ele também a cria: é a partir de seu livro que ela cobra existência.
Mas Montaigne não tinha consciência disso; dizia escrever para si mesmo, com a
intenção de investigar e conhecer a si mesmo, e para seus amigos, a fim de que dele
conservassem uma imagem clara após sua morte. Por vezes foi mais além, e afirmou que
num único indivíduo pode-se encontrar a constituição de todo o gênero humano. Seja
como for, ele mesmo é seu único objeto, e seu único fito é aprender a viver e a morrer —
isso é o mais importante, pois para ele quem aprendeu a morrer sabe também como viver.
A ideia soa algo filosófica, e em alguma instância de fato o é. Mas falar de uma filosofia
de Montaigne é um equívoco. Não há sistema algum; ele mesmo afirma, por exemplo, que
é inútil aprender a morrer, pois a natureza encarrega-se disso à nossa revelia; e falta-lhe
também uma verdadeira vontade de ensinar como a de Sócrates (que de resto bem se pode
comparar a ele) e, portanto, uma vontade de alcançar uma validade objetiva. Aquilo que
escreve dirige-se a ele e vale apenas para ele; se outros descobrirem aí alguma utilidade e
prazer, tanto melhor.
A utilidade e o prazer que se podem auferir dos Ensaios têm um aspecto peculiar, antes
desconhecido. Não são de um gênero propriamente artístico, pois não se trata de poesia, e
o objeto é muito próximo e concreto para que o efeito possa permanecer puramente
estético. Mas seu caráter também não é apenas didático, uma vez que conservam sua
validade ainda que se tenha uma opinião diversa — melhor dizendo, é difícil encontrar
uma doutrina da qual se possa discordar. Na maioria das vezes, seu efeito é semelhante ao
de algumas obras da Antiguidade tardia, de caráter histórico-moral, à maneira de Plutarco
— um dos autores prediletos de Montaigne. Mas falta-lhe uma orientação racional
unitária, até mesmo dentro de cada um dos capítulos. Trata-se de exemplos que são
constantemente ponderados, verificados e apreciados. Poucos são os resultados, e estes de
qualquer modo não exigem a concordância do leitor. Mas a própria forma como o assunto