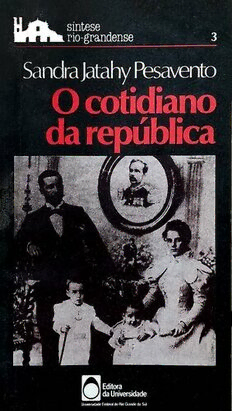Table Of Contentsintese Re
Edf ste:
ao JC fe]
ER ji=
Unmversadade Federal do Rio Grande do Sul
O cotidiano da república
aà ADA
n Ê
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL
Reitor
Tuiskon Dick
Pró-Reitor de Extensão
Waldomiro Carlos Manfrói
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Abílio Afonso Baeta Neves
Pró-Reitor de Administração
José Serafim Gomes Franco
Pró-Reitor de Planejamento
Edemundo da Rocha Vieira
Pró-Reitor de Assistência
à Comunidade Universitária
Fernando Irajá Félix de Carvalho
Pró-Reitor de Graduação
Darcy Dillenburg
EDITORA DA UNIVERSIDADE
Diretor
Sergius Gonzaga
CONSELHO EDITORIAL
Celi Regina Jardim Pinto
Fernando Zawislak
Giinter Weimer
Ivo Sefton Azevedo
Joaquim B. da Fonseca
Luis Alberto De Boni
Mário Costa Barberena
Sergio Roberto Silva
Sergius Gonzaga
Luiz Duarte Vianna, presidente
EDITORA DA UNIVERSIDADE
Av. João Pessoa, 415
Fone (0512) 24-8821
90040 - Porto Alegre, RS
No
E
ASSOCIAÇÃDOAS EDITORAS
UNIVERSIDTA ÁRERGIIÃOA SSUL
Editora filiada à
ABEU — Associação Brasileira das Editoras Universitárias,
e participante do
PÍDL — Programa Interuniversitário para Distribuição do Livro.
Sandra Jatahy Pesavento
O cotidiano
da república
elites e povo na virada do século
Sintese rio-grandense/3
O de Sandra Jatahy Pesavento
1º edição: 1990
Direitos reservados desta edição:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Capa: Paulo Antonio da Silveira
Ilustração da capa: Família porto-alegrense no final do século
Editoração: Geraldo F, Huff
Revisão: Marli de Jesus Rodri gues dos Santos, Anajara Carbo-
nell Closs, Maria da Graça Storti Féres, Mônica Ballejo Canto
Montagem: Rubens Renato Abreu
Divulgação: Jurandir Soares
Administração: Antonio A, Dallazen
Sandra Jatahy Pesavento. Professora no Departamento de Histó-
ria da UFRGS. Mestra em História pela PUCRS, Doutora em Histó-
ria pela USP. Publicações: Repúlica velha gaúcha: charqueadas, fri-
goríficos e criadores — RS 1889-1930, 1980; História do Rio Grande
do Sul, 1980; RS: a economia e o poder nos anos trinta, 1980; RS:
agropecuária colonial e industrialização, 198 3; 4 Revolução Federa-
lista, 1983; A Revolução Farroupilha, 1985; História da indústria sul-
rio-grandense, 1985; Pecuária e indústria, Formas de realização do
capitalismo na sociedade gaúcha no século XIX, 1986: Burguesia
gaúcha, Dominação de capital e disciplina de trabalho. RS:
1889-1930; Emergência dos subalternos: trabalho livre e ordem bur-
guesa, 1989; Cem anos de República, 1989.
P472 Pesavento, Sandra Jatahy
O cotidiano da república / Sandra Jatahy Pesavento. — Porto
Alegre: Ed. da Univesidade/UFRGS, 1990. (Síntese Rio-
Grandense; 3)
1. República — Forma de Governo — Rio Grande do Sul,
2. Rio Grande do Sul — História — Período republicano, I,
Título.
CDU 981.65.07/.08
321.728(816.5)
Catalogação-na-Publicação (CIP) de Zaida Maria Moraes
Preussler CRB-10/203
ISBN 85-7025-202-1
SUMÁRIO
Qual república? .....c.... E RECO 7
A república do progresso: trabalho livre,
máquinas € riqueza ...cecesercocesossecoceconanenennes 14
O progresso na ordem: as condições
de trabalho .....esescccscecoso Stones sds ass sena s peecc css 22
O espetáculo da cidade: assimetria social
e ocupação do espaço .....cccseescooenensscececenenos 32
Cidadania em questão: zé povinho reclama
E ECXIPE..cccccerscoccer neenncecneececsossesecrneetnada0a 41
Os perigos da cidade: ó da polícia ....... csscesenco 53
Bêbados, jogadores, prostitutas e vagabundos:
as ameaças à moral e aos bons costumes .......... 62
Homem e mulher, criança e casamento .....ccceses 72
Educação do povo e das elites:
a distinção dos saberes .....ceceseccccescccscencnssso 19
QUAL REPÚBLICA?
Em 1979, o senador da Aliança Renovadora
Nacional (ARENA) Francelino Pereira perguntava à
uma nação que enveredava pelo tortuoso € difícil
caminho da abertura: “que país é este?”
A indagação, que induz perplexidade, questio-
namento e reflexão, foi retomada literalmente no
ano seguinte por Affonso Romano de Santana na
obra do mesmo nome.
Sem maior indagação sobre os condicionamen-
tos pessoais ou políticos que levaram O senador
piauiense a pronunciar frase tão instigante, a ques-
tão ressurge com força quando se pensa que à Re-
pública brasileira conta já com um século de exis-
tência: que país é este? qual República?
Não se trata em absoluto de enveredar pelo ca-
minho do endosso da lendária e contraversa €xpres-
são atribuída a De Gaulle de que este não seria um
“naís sério”.
Pelo contrário, um regime que completa 100
anos, mesmo com altos e baixos, direitos e avessos,
é digno de séria reflexão; o fato de pais € filhos
votarem juntos para presidente da República pela
primeira vez é uma questão seríssima; pensar que há
séculos atrás emergiam questões, discriminações e
problemas com os quais nos debatemos hoje pode
ser até assustador.
Ao longo destes cem anos, a República tem si-
do pensada de forma diferente. Em obra já clássica,
Emília Viotti da Costa (Da Monarquia à República:
momentos decisivos. 1977) realizou um excelente
balanço das diferentes visões historiográficas sobre
o tema.
Os contemporâneos ao evento, animados por
um “espírito de partido” que os posicionava contra
7
ou a favor do novo regime, tenderam a interpretar o
15 de Novembro ou como “obra do acaso”, numa
postura nitidamente monarquista, ou como um “re-
sultado inevitável”, segundo um ponto de vista re-
publicano. Embora contraditórias, tais abordagens
convergem para um mesmo tipo de enfoque idealis-
ta, marcado pelo subjetivismo e pela ênfase na atua-
ção dos personagens envolvidos. As versões dos
monarquistas (Afonso Celso, Visconde de Ouro
Preto) ou dos republicanos (Felício Buarque) obe-
deceram a uma postura emocional de quem viven-
ciara os acontecimentos nos primeiros e conturba-
dos anos da implantação do regime.
No início da década de 20, quando as crises,
tensões e conflitos se avolumavam, não mais na
contestação do regime em si, mas “daquela Repú-
blica””, a historiografia apresentou um avanço com a
obra de Oliveira Viana (O ocaso do Império. 1923).
Numa postura de tendência positivista, orientada
pelas idéias de evolução, do progresso linear e do
mecanismo causa-efeito, Oliveira Viana definiu uma
visão até hoje veiculada em livros didáticos. Tocado
por um certo saudosismo da Monarquia, o autor
realizou uma revisão da transição do regime me-
diante o estabelecimento de certas “causas funda-
mentais”: a questão servil, a questão religiosa, a
questão militar, a questão federal. Trata-se, sem dú-
vida, de um esforço explicativo na direção das mo-
tivações dos agentes históricos (os fazendeiros es-
cravocratas, os padres, os militares e os cafeiculto-
res paulistas) envolvidos, mas constitui-se ainda
numa visão mecânica, da qual estão ausentes as no-
ções de processo, sistema, classe social ou mesmo
de capitalismo.
Novo avanço no campo da interpretação histo-
riográfica da República foi dado com a contribuição
dos autores marxistas das décadas de 30, 40 e 50
(Caio Prado Jr., Nelson Werneck Sodré, Leôncio
Basbaun) que, sob a orientação do materialismo
histórico, buscaram explicar a queda do regime mo-
nárquico pela sua inadequação ao desenvolvimento
econômico-social do país. Ou seja, a República se-
ria o resultado de um desajuste entre a infra e a su-
perestrutura. À partir de um contexto econômico-
social em transformação (trabalho livre, expansão
do café, indústria, urbanização, etc.), buscaram dis-
tinguir os interesses das classes sociais envolvidas,
concluindo que a República teria se dado pela
aliança entre setores progressistas do latifúndio ca-
feicultor e as classes médias urbanas, sendo os mi-
litares seus porta-vozes.
O enfoque é, contudo, ainda simplista e mecâ-
nico, reduzindo a realidade a um modelo preesta-
belecido, mas tem o mérito de introduzir categorias
como “sistema” e classes sociais” na análise, en-
tendendo a implantação da República como uma das
facetas de um processo de transformações em curso
na sociedade brasileira.
No decorrer dos anos 60 e 70, face ao próprio
amadurecimento da sociedade urbano-industrial no
país e os rumos empreendidos pelo desenvolvimento
econômico brasileiro, o eixo das análises no campo
das ciências humanas tendeu a concentrar-se em
torno das origens e da trajetória seguida pelo capi-
talismo no Brasil. Desta forma, houve uma tendên-
cia dos estudos realizados se concentrarem no pe-
ríodo entre 1850 e 1930, quando o sistema capita-
lista teria se gerado e desenvolvido intensamente à
partir do complexo agrário cafeicultor nucleado em
São Paulo. Neste contexto, as numerosas análises
sobre a cafeicultura, a imigração, a desagregação do
escravismo, a formação da indústria e da classe tra-
balhadora forneceram uma base para O entendi-
mento da transição da Monarquia para a República.
Embora realizados sob distintos recortes temáti-
cos e de ênfase metodológica, os autores tenderam à
confluir para um mesmo tipo de conclusão: a Repú-
blica viria corresponder, enquanto regime político,
às variadas aspirações por progresso, representati-
vidade política, riqueza, estabilidade e ideal de ci-
vilização apresentados pelos diferentes grupos da
sociedade que, por motivos variados, se encontra-
9
vam em desajuste com a Monarquia. Este tipo de vi-
são estaria presente, de forma mais ou menos explí-
cita, na obra de historiadores como Emília Viotti da
Costa, já citada, Edgard Carone (A República ve-
lha. 1970, 1971), José Ênio Casalecchi (A procla-
mação da República. 1981). As “causas” ou
“questões” tradicionais seriam nestas obras retoma-
das à luz da noção de processo, das tranformações
econômico-sociais do Império e da ação e motiva-
ção das classes sociais.
O entendimento da República como uma das fa-
cetas de um processo mais amplo de realização do
capitalismo no país encontrou novo apoio com as
análises de Florestan Fernandes sobre a revolução
burguesa (A revolução burguesa no Brasil. 1975).
O autor entende a revolução burguesa não como um
movimento político de “assalto” ao controle do
Estado pela burguesia, mas como um processo mais
amplo, ao mesmo tempo de transformações econôó-
mico-sociais — novas relações de produção, novas
técnicas e formas de organização do trabalho, novas
classes sociais — e de construção de estruturas polí-
tico-administrativas e concepções ideológicas con-
solidadoras do poder burguês. Com esse enfoque,
Florestan Fernandes abre espaço para o entendi-
mento de República como uma das facetas deste
processo amplo.
Na década de 80, o tema da revolução burguesa
seria retomado com as análises de Décio Saes (A
formação do estado burguês no Brasil, 1666-1891.
1985) para quem tanto a Abolição quanto a Repú-
blica seriam momentos de realização da revolução
burguesa. A proclamação da República correspon-
deria à dimensão propriamente política daquele pro-
cesso: a da construção de um Estado burguês, ou da
constituição dos aparatos jurídico-institucionais
através dos quais a dominação e o poder burguês se
instalariam no Brasil.
Como diria Iraci G. Salles (Trabalho, progres-
so e a sociedade civilizada. 1986), “a república
colocou-se então como a alternativa concreta de
10