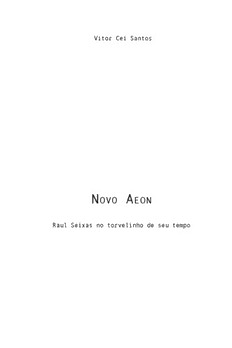Table Of ContentVitor Cei Santos
N A
ovo eoN
Raul Seixas no torvelinho de seu tempo
Editora Multifoco
Simmer & amorim Edição e comunicação ltda.
av. Mem de Sá, 126, lapa
rio de Janeiro - rJ
cEP: 20203-152
Autor • Vitor Cei Santos
CApA • Luan Pirola/Aline Marion
Foto dA CApA • Folhapress
diAgrAmAção • Tayanne Cura
revisão • Andréia Delmaschio/ Rodrigo Afonso
CAtAlogAção • Saulo de Jesus Peres - CRB12/676
Dados Internacionais de Catalogação na publicação (CIP)
Santos, Vitor Cei, 1983-
S237n Novo Aeon : Raul Seixas no torvelinho de seu tempo /
Vitor Cei Santos. – Rio de Janeiro : Multifoco, 2010.
234 p. ; 14 x 21 cm.
Originalmente apresentado como dissertação do autor
(mestrado– Universidade Federal do Espírito Santo)
ISBN XXXXXXX
1. Seixas, Raul, 1945-1989 – Crítica e interpretação. 2. Pós - modernismo
– Filosofia. 3. Indústria cultural – Brasil. 4. Música popular – Brasil
– História e crítica. 5. Nova Era (Movimento esotérico). 6. Teoria
literária. I. Título.
CDU: 316.722
78:133.3
78.071.1
82.09
Todos os direitos reservados. A reprodução de qualquer parte desta obra, por
qualquer meio, sem prévia autorização do autor e da Editora Multifoco, constitui
violação da LDA 9610/98.
Vitor Cei Santos
N A
ovo eoN
Raul Seixas no torvelinho de seu tempo
luminária luminária
academia academia
um selo da editora multifoco
rio de Janeiro, 2010
S ´
umArio
Agradecimentos 7
Do Monstro SIST e arredores 8
(Sérgio da Fonseca Amaral)
Um livro em alto e bom som 13
(Wilberth Salgueiro)
Introdução 18
1. O ouro de tolo do Velho Aeon
1.1. Desbunde & censura 45
1.2. O torvelinho da modernidade 53
1.3. O retado Monstro SIST 65
1.4. Pipoca aos macacos 79
2. um trem para o Novo aeon
2.1. A Lei de Thelema 99
2.2. O raulseixismo em seu tempo 130
2.3. Ói o trem 151
3. Melancolia e promessas de amor
3.1. Charrete sem condutor 167
3.2. Kamikaze em marcha lenta 190
3.3. No final, carpinteiro de si 202
Epílogo 213
Bibliografia 223
Discografia 231
A
grAdecimeNtoS
O
solitário trabalho de indagar, pensar e escrever
não seria possível sem a companhia e a colaboração de
muitas pessoas, que de diversos modos deixaram suas
marcas neste livro.
Nos três estágios desta pesquisa, das graduações em fi-
losofia e jornalismo ao mestrado em Estudos Literários, eu
tive o privilégio de ser orientado por Claudia Murta, Darcília
Moysés e Sérgio da Fonseca Amaral. A vocês, agradeço o clima
aberto de pensamento e a acolhida oferecida a esta pesquisa.
Agradeço aos membros das bancas examinadoras,
Adilson Vilaça, Jorge Luiz do Nascimento, Luis Eustáquio
Soares, Marcelo Paiva de Souza, Ronaldo Lima Lins e
Wilberth Salgueiro, pelas valiosas críticas e sugestões.
À minha família e aos meus amigos, colegas, pro-
fessores e alunos que, de algum modo, tenham contri-
buído com a minha formação. Em especial, agradeço a
Adolfo Oleare, Délio Freire, Luan Pirola, Miriam Costa
Cordeiro, Paulo “Futeco” Carvalho e Sthefanny Gozze.
À toda equipe da Multifoco, em especial aos edi-
tores Frodo Oliveira e Rodrigo Afonso Magalhães, pela
confiança em meu trabalho.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), pela bolsa de mestrado que
financiou a pesquisa.
E por fim, evocando o princípio, agradeço ao ami-
go Welder da Silva Dalla Bernardina, por ter me apre-
sentado a obra do Raul Seixas.
Novo Aeon: Raul Seixas no torvelinho de seu tempo 7
d m SiSt
o oNStro e ArredoreS
C
om este livro, escrito inicialmente para uma dis-
sertação de mestrado, na Universidade Federal do Espírito
Santo, Vitor Cei Santos apresenta um estudo instigante e
intrigante sobre um dos mais polêmicos músicos na dé-
cada de 70, no Brasil. O trabalho desenrola um fio cheio
de nós o qual poderia não apontar a saída do labirinto
histórico, artístico, político, cultural e biográfico no qual
se embrenhou. Pois o resultado apresentado demonstra
uma solução muito bem resolvida da situação. Primeiro,
consegue destacar o músico e suas canções tanto no con-
texto no qual estava inserido, como ressaltar sua proposta
de transformação voltada para aspectos místicos e alter-
nativos em relação ao embate dominante do período; se-
gundo, por perseguir um método que não perde de vista
a transição sócio-político-econômica brasileira para uma
pós-modernidade que se anunciava.
Houve um tempo no Brasil, especificamente o final
da década de 60 e toda a de 70, que todas as discussões
encaminhavam-se para polarizações acaloradas diante da
circunstância política em que o país vivia. Estávamos sob
o tacão da ditadura militar, portanto nada mais natural que
assim o fosse. Todos eram chamados, ou constrangidos,
em qualquer debate – do botequim ao congresso nacional
–, a tomar partido sobre a situação existente. Isso não sig-
nificava, necessariamente, posicionar-se na prática efetiva
da luta política partidária, mas, mesmo nos assuntos mais
gerais, demarcar uma linha imaginária entre o que corro-
8 Vitor Cei Santos
borava o regime vigente e a oposição a ele. Diante disso, a
produção cultural do país não poderia passar incólume às
pressões vindas de todas as partes envolvidas no processo:
dos produtores aos receptores.
Então vivíamos uma situação paradoxal: o país final-
mente deslanchava a sua indústria cultural de massa por ter
construído e sistematizado um parque hegemonicamente
explorado pela televisão, em grande parte fomentado pelos
governos da ditadura militar. A televisão, na década de 70,
assume o espaço outrora ocupado pelo rádio. Com isso, a
indústria fonográfica também expande-se e uma nova ge-
ração de músicos ocupa o cenário dentro dos vários ritmos
que consolidam a audiência: notadamente, a Jovem Guarda,
a MPB, a música chamada brega e o rock. Paradoxal por-
que, se de um lado a ditadura incentivava e implementava
técnica e tecnologicamente tal parque, por outro censurava
uma boa parcela de sua produção realizada pelos artistas
envolvidos no processo de criação. Nem a chamada música
brega escapou da tesoura dos censores. A censura alegava
motivos de ordem moral e antissubversiva para vetar certas
obras, porém, evidentemente, a atenção era voltada para
qualquer palavra que pusesse sob suspeita o governo insta-
lado. Nesse quadro, fervilharam os festivais que impulsio-
naram carreiras como as de Chico Buarque, Gilberto Gil e
Caetano Veloso.
O Tropicalismo, movimento surgido para repensar
a cultura nacional num contexto prenunciador do que
hoje se chama globalização, afirma-se como uma vertente
estético-cultural consciente da necessidade de modernizar
e inserir definitivamente o país numa massificação que es-
capasse às fronteiras do nacionalismo caricato. Assim, o
palco musical transformou-se, ele também, num campo
Novo Aeon: Raul Seixas no torvelinho de seu tempo 9
de batalha ideológico com partidários de tais e tais mú-
sicos ou músicas. Concomitantemente, existia o movi-
mento jovem em escala planetária, pelo menos da banda
ocidental. Tais injunções não podiam deixar de reverberar
no país, e, como expressão político-ideológico-existencial,
os artistas da música ganharam uma notoriedade além de
suas atribuições de músicos: uns viram-se transformados
em gurus para uma nova ordem social. Se, de um lado,
havia uma devoção, quase religiosa, de outro, a racionali-
dade técnica comandava o espetáculo, o show business e
a organização empresarial sobre o apelo estético. Em tal
imbricação curiosa floresceu uma massa de jovens ansio-
sos por transformação social, embebidos em canções e
em rock’n’roll. Desbundando-se, ou engajando-se, muitos
elegeram músicos como ídolos para verdadeiras adora-
ções. Acreditava-se que, pela música, uma revolução seria
possível, pois, segundo um jargão da época, conscienti-
zaria as massas. Em tal conjuntura é de se esperar que os
ânimos se acirrassem, por vezes. Como exemplo, lembre-
mos a vaia recebida por Caetano num dos festivais e o seu
famoso desabafo; o incensamento de Geraldo Vandré e
de sua canção, transformada em hino contra a ditadura
militar. Por outras bandas, para tocar a vida, simplesmen-
te, havia a música brega e suas enxurradas de amores fra-
cassados e doridos, levando à comoção um público refém
de um romantismo residual, porém ainda dominante no
imaginário estandardizado.
Resumidamente, a configuração do período apresen-
tava o quadro descrito acima. Assim, é compreensível que
opções estético-políticas fossem feitas, defendidas e vivi-
das por grupos sociais que se conflitavam num país vio-
lentamente silenciado. Contudo, deve-se tentar entender
10 Vitor Cei Santos