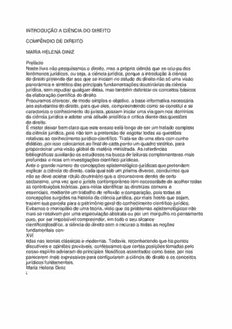Table Of ContentINTRODUÇÃO A CIÊNCIA DO DIREITO
COMPÊNDIO DE DIREITO
MARIA HELENA DINIZ
Prefácio
Neste livro não pesquisamos o direito, mas a própria ciência que se ocu pa dos
fenômenos jurídicos, ou seja, a ciência jurídica, porque a introdução à ciência
do direito pretende dar aos que se iniciam no estudo do direito não só uma visão
panorâmica e sintética das principais fundamentações doutrinárias da ciência
jurídica, sem repudiar qualquer delas, mas também delimitar os conceitos básicos
da elaboração científica do direito.
Procuramos oferecer, de modo simples e objetivo, a base informativa necessária
aos estudantes do direito, para que eles, compreendendo como se constitui e se
caracteriza o conhecimento do jurista, possam iniciar uma via gem nos domínios
da ciência jurídica e adotar uma atitude analítica e crítica diante das questões
de direito.
É mister deixar bem claro que este ensaio está longe de ser um tratado completo
da ciência jurídica, pois não tem a pretensão de esgotar todas as questões
relativas ao conhecimento jurídico-científico. Trata-se de uma obra com cunho
didático, por isso colocamos ao final de cada ponto um quadro sinótico, para
proporcionar uma visão global da matéria ministrada. As referências
bibliográficas auxiliarão os estudiosos na busca de leituras complementares mais
profundas e ricas em investigações científico-jurídicas.
Ante o grande número de concepções epistemológico-jurídicas que pretendem
explicar a ciência do direito, cada qual sob um prisma diverso, concluímos que
não se deve aceitar rótulo doutrinário que a circunscreva dentro de certo
sectarismo, uma vez que o jurista contemporâneo tem necessidade de acolher todas
as contribuições teóricas, para nelas identificar as diretrizes comuns e
essenciais, mediante um trabalho de reflexão e comparação, pois todas as
concepções surgidas na história da ciência jurídica, por mais hostis que sejam,
trazem sua parcela para o patrimônio geral do conhecimento científico-jurídico.
Evitamos o monopólio de uma teoria, visto que os problemas epistemológicos não
mais se resolvem por uma especulação abstrata ou por um mergulho no pensamento
puro, por ser impossível compreender, em todo o seu alcance
científicotjlosólìco, a ciência do direito sem o recurso a todas as noções
fundamentais con-
XVI
tidas nas teorias clássicas e modernas. Todavia, reconhecendo que há pontos
discutíveis e opiniões prováveis, confessamos que certas posições tomadas pelo
nosso espírito advieram de princípios filosóficos assentados como base, por nos
parecerem mais expressivos para configurarem a ciência do direito e os conceitos
jurídicos fundamentais.
Maria Helena Diniz
i
CAPÍTULO I
Natureza epistemológica da
introdução a ciência do direito
1. INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO E SEU CARÁTER PROPEDÊUTICO OU
ENCICLOPÉDICO
A introdução à ciência do direito é uma matéria, ou um sistema de conhecimentos,
que tem por escopo fornecer uma noção global ou panorâmica da ciência que trata
do fenômeno jurídico, propiciando uma compreensão de conceitos jurídicos comuns
a todas as disciplinas do currículo do curso de direito e introduzindo o
estudante e o jurista na terminologia técnico-jurídica. É, por isso, uma
enciclopédia, por conter, além dos conhecimentos filosóficos, os conhecimentos
de ordem científica - sem, contudo, resumir os diversos ramos ou especializações
do direito - e por abranger, não só os aspectos jurídicos, mas também os
sociológicos e históricos.
Trata-se de uma disciplina essencialmente preparatória ou propedêutica ao ensino
dos vários ramos jurídicos, devido às noções básicas e gerais que visa
transmitir, constituindo uma ponte entre o curso médio e o superior. Poder-se-ia
trazer à colação, para justificar essa matéria no curso de direito, as sábias
palavras de Victor Cousin, ao pleitear, em 1814, a sua criação, em França,
transcritas por Lucien Brun: "Quando os jovens estudantes se apresentam em
nossas escolas, a jurisprudência é para eles um país novo do qual ignoram
completamente o mapa e a língua. Dedicam-se de início ao estudo do direito civil
e ao do direito romano, sem bem conhecer o lugar dessa parte do direito no
conjunto da ciência jurídica, e chega o momento em que, ou se desgostam da
aridez desse estudo especial, ou contraem o hábito dos detalhes e a antipatia
pelas vistas gerais. Um tal método de ensino é bem pouco favorável a estudos
amplos e profundos. Desde muito tempo os bons espíritos reclamam um curso
preliminar que tenha por objeto orientar de algum modo os jovens estudantes no
labirinto da jurisprudência; que dê uma vista geral de todas as partes da
ciência jurídica, assinale o objeto distinto e especial de cada uma delas e, ao
mesmo tempo, sua recíproca dependência e o laço íntimo que as une; um curso que
estabeleça o método geral a seguir no estudo do direito, com as modificações
particulares que cada ramo reclama; um curso, enfim, que faça conhecer as obras
importantes que marcaram o progresso da ciência.
4
Um tal curso reabilitaria a ciência do direito para a juventude, pelo caráter de
unidade que lhe imprimiria, e exerceria uma influência feliz sobre o trabalho
dos alunos e seu desenvolvimento intelectual e moral".
A introdução à ciência do direito não consiste apenas no conjunto de noções
propedêuticas necessárias para que o estudante possa embrenhar-se, com proveito,
na selva emaranhada dos estudos jurídicos, nem no instrumento que há de guiar o
principiante no áspero caminho que começa a transitar, por ser também o saber
que expõe as linhas fundamentais da ciência jurídica.
Comparada a um mapa que guia o viajante recém-chegado pela imensidão do
continente jurídico, a introdução à ciência do direito responde, obviamente, à
necessidade de uma disciplina com caráter enciclopédico ou geral no curso
jurídico.
Tal matéria já foi rotulada como: introdução ao direito, introdução às ciências
jurídicas, enciclopédia jurídica, introdução geral ao direito, introdução
enciclopédica ao direito, introdução ao direito e às ciências sociais,
introdução às ciências jurídicas e sociais, prolegômenos do direito, teoria
geral do direito etc. No Brasil, essa disciplina tornou-se obrigatória nos
cursos jurídicos pelo Decreto n. 19.852/31, com a denominação introdução à
ciência do direito. Com a aprovação da Resolução n. 3, de 25 de fevereiro de
1972, pelo Conselho Federal de Educação, a tradicional denominação introdução à
ciência do direito, que era oficial desde 1931, foi substituída por introdução
ao estudo do direito, incluída entre as matérias básicas como pré-requisito de
todas as disciplinas profissionais. Atualmente, pela Portaria n. 1.886/94, art.
6°, I, do Ministério da Educação e do Desporto, tal disciplina recebe a
designação de Introdução ao Direito. Contudo, preferimos a designação introdução
à ciência do direito, pelo seu rigor técnico, inquestionável'.
1. Luiz Fernando Coelho, Teoria c/a ciência do direito, São Paulo, Saraiva,
1974, p. 1; Francisco Uchoa de Albuquerque e Fernanda Maria Uchoa, Introdução
era estudo do direito, São Paulo, Saraiva, 1982, p. 36-8; A. Machado Pauperio,
Introdução ao estudo do direito, Rio de Janeiro, Forense, 1981 , p. 13, 15 e 16;
Daniel Coelho de Souza, lotoduçâo à ciência do direito, 4. ed., São Paulo,
Saraiva, 1983, p. V. IX e X; A. 1.. Machado Neto, Teoria da ciência jurídica,
São Paulo, Saraiva, 1975, p. 2 e 9; Compêndio de inflo dução à ciência do
direito, 5. ed., São Paulo, Saraiva, 1984, p. 3; Djacir Menezes, Introdução à
ciência do dirrinr, 4. ed., Rio de Janeiro, 1964, p. 283; Abelardo 'Forre,
Inlroduccirhr al
drr• ~
cc hr . 6. al., Ahclcdu-1 a rot, Buenos Aires, p. 84 e s.; Amuro Orgaz,
Lecciones de intruhirridn aI
k rechn r u Ias cicncius snrioles, (órdoha, 1945, p. 8. No texto de Lucien Brun
o termo.lurisynudênciu esta sendo empregado como sincïninio de ciência jurídica.
2. INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO E EPISTEMOLOGIA JURÍDICA
A introdução à ciência do direito 2 não é uma ciência, mas uma enciclopédia,
visto que contém conhecimentos científicos (jurídicos, sociológicos e, às vezes,
históricos), filosóficos, introdutórios ao estudo da ciência jurídica.
A introdução à ciência do direito não possui um prisma próprio para contemplar o
direito, fazendo as vezes de filosofia jurídica, quando procura expor os
conceitos universais do direito, que constituem os pressupostos necessários de
quaisquer fenômenos jurídicos; de dogmática jurídica, quando discute normas
vigentes em certo tempo e lugar e aborda os problemas da aplicação jurídica; de
sociologia jurídica, quando analisa os fatos sociais que exercem influência na
seara jurídica, por intervirem na gênese e desenvolvimento do direito; de
história jurídica, quando contempla o direito em sua dimensão temporal,
considerando-o como um dado histórico-evolutivo que se
2. Numerosas são as obras sobre tal disciplina, dentre elas destacam-se as de:
Paulo Dourado de Gusmão, Introdução à ciência do direito, Rio de Janeiro,
Forense, 1959; A. L. Machado Neto, Compêndio, cit.; J. Flóscolo da Nóbrega,
Introdução ao direito, 3. ed., Rio de Janeiro, Kontino, 1965; Luiz Fernando
Coelho, Teoria, cit.; Francisco Uchoa de Albuquerque e Fernanda Maria Uchoa,
Introdução, cit., p. 26 e 27; A. Machado Pauperio, Introdução, cit.; Daniel
Coelho de Souza, Introdução, cit.; André Franco Montoro, Introdução à ciência do
direito, 3. ed., São Paulo, Livr. Martins Ed., 1972, v. I e 2; François Rigaux,
Introduction à la science du droit, Bruxelles, Ed. Vie Ouvrière, 1974; Wilson de
Sou za Campos Batalha, Introdução ao direito, São Paulo, Revista dos Tribunais,
1967; Djacir Menezes, Introdução, cit.; A. B. Alves da Silva, Introdução à
ciência do direito, São Paulo, Ed. Salesianas, 1940; Julien Bonnecase,
lntroduction à /'elude du droit, Paris, Sirey, 1931; Carlos Mouchet e Ricardo
Zorraquín Becu, lntroducción al derecho, 7. ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot.
1970; Legaz y Lacambra.
erNo c r
/nnrulucciôn a Ia ciem•iu del derecho, Barcelona, Bosch, 1943 _ , Alessandro
GrcPPali, Av warilc /lo Eduardo CGarcia Mãynez lmroducción aI estudio del
dereclto
ctu/iode/ diruic, Milano, Criu(Irè, 195 I; Eduurd
México, Porrúa, 1972; Gastou May, Introdaction à la science chi droit, Paris,
Ed. M. Giard, 1932; J. Haesaert, Théorie générale du droit, Emile Bruylant,
Bruxelles, 1948; Altalión, Garcia Olano e J.
n. : Miguel RealeLi
Vilanova, bvruducción (11 derrete, 5 .. cd., Buenos Aucs, 1.1 Alcnc0I956 2 v.;
M~ ç•de.s
de direito, São Paulo, Saraiva, 1976; Hermes Linir, in!rodiç ao à ciência do
direito Rio de l rc luninures
Janeiro Freitas Bastos 1970; Vicente Ráo, (1 direito e a vida dos direitos, São
Paulo, Max I.inionad, 1952; BenIamin de Oliveira Filho, /nnvchiçãu à ciêru ia do
direito, Tip. Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1954; Tércio Sampaio Ferraz.
Jr., Introdução ao estudo do direito, São Paulo, Atlas, 1988.
6
Natureza epistemológica da introdução à ciência do direito 7
desenrola através dos tempos. Falta-lhe, portanto, unidade de objeto, ou seja,
um campo autônomo e próprio de pesquisa. Não é uma ciência por não ter objeto
próprio, mas, apesar disso, é uma disciplina epistemológica, como nos ensina A.
L. Machado Neto, porque:
a) Responde às seguintes questões: O que é a ciência do direito? Qual o seu
objeto específico? Qual o seu método? A que tipo de ciência pertence? Como se
constitui e caracteriza o conhecimento do jurista?
Essas interrogações existem, surgem a cada momento na vida do cientis ta do
direito, pois concernem a um dos problemas jusfilosóficos fundamen tais,
tornando necessário procurar-lhes, senão uma resposta definitiva, pelo menos um
esclarecimento à altura de sua importância para o mundo jurídico.
Compete à filosofia do direito solucionar o problema do conhecimento jurídico,
na sua parte especial designada epistemologia jurídica, que, no sentido estrito,
tem a incumbência de estudar os pressupostos, os caracteres do objeto, o método
do saber científico e de verificar suas relações e princípios. Nesse sentido a
epistemologia jurídica é a teoria da ciência jurídica, tendo por objetivo
investigar a estrutura da ciência, ou seja, visa o estudo dos problemas do
objeto e método da ciência do direito, sua posição n0 quadro das ciências e suas
relações com as ciências afins. A epistemologia é considerada, em sentido amplo,
como sinônimo de gnoseologia, parte integrante da filosofia que estuda crítica e
reflexivamente a origem, a natureza, () alcance, os limites e o valor da
faculdade humana de conhecimento e os critérios que condicionam a sua validade e
possibilidade. É a teoria do conhecimento em geral e não apenas do saber
científico; é a teoria do conhecimento jurídico em todas as suas modalidades:
conceitos jurídicos, proposições, raciocínio jurídico etc. Depreende-se daqui
que a epistemologia difere da teoria do conhecimento ou gnoseologia, visto que
estuda o conhecimento na diversidade das ciências e dos objetos, enquanto aquela
o considera na unidade do espírito. Logo, a epistemologia jurídica é a teoria da
ciência do direito, um estudo sistemático dos pressupostos, objeto, método,
natureza e validade do conhecimento jurídico-científico, verificando suas
relações com as dentais ciências, ou seja, sua situação no quadro geral do
conhecimento'.
3. 0 vocábulo epistemologia advém do grego episténie que significa ciência e
logos, ou seja, estudo: e o termo gnoseologia é oriundo do grego gnosis que
indica conhecimento. V A. Franco Montoro, hnrodução, cu., v. I, p. 130; A. L.
Machado Neto, Teoria da ciência jurídica, cit., p. t; Miguel Reate, f•ïlosolìa
do direito, 5. ed., São Paulo, Saraiva, v. I , p. 40 e 160; Johannes Hessen,
Teoria tje'l ccmoc'imiento, Buenos Aires, Losada, p. 21; André Lalande,
Épistémologie e gnoséologie, in Vocahupure technique et critique de Ia
/rhiloso/rhie 4. e d., Paris, `PU F : , 1968, v. 2; A. Xavier Teles, /ntrrdu(.io
au estudo da
filoso/ia, Atica 1965, p. 55; bury rhiloso rlt
. Victor F. Lenten, Philosophy of science, in 7icentieth cu. I ! )•
New York. Pd. Runes, 1943, p. 109.
Ante o exposto, fácil é concluir que a introdução à ciência do direito é uma
epistemologia jurídica, já que alude não ao direito, mas à ciência que trata dos
fenômenos jurídicos, de maneira a responder à questão sobre o que é a ciência
jurídica como uma introdução, a fim de que o estudante não a confunda com
direito, que é seu objeto, o que levaria a uma inversão de conceitos,
comprometendo o nível teórico dos juristas.
O autor de uma obra sobre "introdução à ciência do direito" deve dar, pelo
menos, uma idéia do que seja a ciência jurídica, deixando claro que não está
tratando do direito, que é tarefa do jurista. O professor de introdução à
ciência do direito, situando-se na categoria intelectual de quase jusfilósofo,
ocupa-se, no dizer de Ortega y Gasset, com algo que tem que ver com o direito,
mas que não se identifica com ele.
Quem trata do direito está elaborando ciência jurídica, mas quem se ocupa com a
ciência do direito está fazendo epistemologia. Daí o nítido teor epistemológico
da introdução à ciência do direito, que busca apresentar, esquematicamente, os
vários problemas ou questões que se apresentam à ciência jurídica.
b) Define e delimita, com precisão, os conceitos jurídicos fundamentais que
serão utilizados pelo jurista para a elaboração da ciência jurídica. Tais
conceitos básicos abrangem os de relação jurídica, fonte jurídica, direito
objetivo e subjetivo, direito público e privado, fato jurídico, sanção e
interpretação, integração, aplicação da norma no tempo e no espaço etc. Sem a
determinação desses conceitos, o jurista não poderá realizar sua tarefa
intelectual. Este estudo, que é objeto da teoria geral do direito, segundo
muitos autores, por ser considerado o centro vital da introdução à ciência do
direito, possui, indiscutivelmente, caráter epistemológico, por ser um
conhecimento de natureza filosófica.
c) Apresenta, sistematicamente, a evolução das escolas científico-jurídicas que
predominaram na história, para familiarizar o estudante com as correntes
fundamentais do pensamento jurídico'.
Exige-se, modiernamente, ante o fato de se dar à normatividade do direito uma
nova dimensão, que o jurista tenha um conhecimento sistemático do ordenamento
jurídico, voltado à jusfilosofia, para fixar toda a riqueza da vida
4. A. L. Machado Neto, Teoria da ciência jurídica, c it., p. 2-1 Q e Compêndio,
c it., p. 3-9; Miguel Rca ea I Lições /rrelimin re•s )' " São e, o . , cit., p.
11; M. Helena I miz, A ciêncio,iuríílira, Prefácio, 2. ed., Sae P.mlo, Resenha
Universitária, 1982, p. I I e 12, nota 30; A. B. Alves da Silva, lmrodução,
cit., p. 2; Luiz Fernando Coelho, Teoria, cit., p. 6-12; Ortega y Gasset,
Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiu gia, in Obras completa.%, 2.
ed., Madrid, Revista de Occidente, 1951, v. 5, p. 525; Carlos Mouchet e Ricardo
Zorraquín Becu, lntroducci6n, cit., p. 83.
QUADRO SINÓTICO
NATUREZA EPISTEMOLÓGICA DA INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO
1. CONCEITO DE INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO
2. CARÁTER PROPEDÊUTICO DA INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO
3. CARÁTER EPISTEMOLÓGICO DA INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO
A introdução à ciência do direito é uma matéria que visa fornecer uma noção
global da ciência que trata do fenômeno jurídico, propiciando uma compreensão de
conceitos jurídicos comuns a todos os ramos do direito e introduzindo o
estudante e o jurista na terminologia técnico-jurídica.
E uma enciclopédia, por conter conhecimentos científicos, abrangendo, além dos
aspectos jurídicos, por vezes, até, os sociológicos e históricos, filosóficos,
introdutórios ao estudo da ciência jurídica. É uma matéria essencialmente
propedêutica ao ensino dos vários ramos jurídicos, constituindo uma ponte entre
o curso médio e o superior.
A introdução à ciência do direito não é ciência, por faltar-lhe unidade de
objeto, mas é uma disciplina epistemológica por:
a) dar uma visão sintética da ciência jurídica;
b) definir e delimitar, com precisão, os conceitos jurídicos fundamentais, que
serão utilizados
pelo jurista na elaboração da ciência jurídica;
c) apresentar, de modo sintético, as escolas científico-jurídicas.
CAPÍTULO II
Ciência jurídica
1. NOÇÃO PRELIMINAR DE CONHECIMENTO E CORRELAÇÃO ENTRE SUJEITO
COGNOSCENTE E
OBJETO COGNOSCÍVEL
Este item é imprescindível para a compreensão cabal deste ensaio, pois, para
entendermos a ciência jurídica, é mister que esbocemos, sucintamente, algumas
noções fundamentais sobre o conhecimento, visto que ciência é conhecimento.
Importa nessa ordem preliminar de considerações levantar a seguinte questão: o
que é conhecimento?
Conhecer é trazer para o sujeito algo que se põe como objeto. "É a operação
imanente pela qual um sujeito pensante se representa um obje to''. Consiste em
levar para a consciência do sujeito cognoscente algo que está fora dele. É o ato
de pensar um objeto, ou seja, de torná-lo presente à inteligência'-. O
conhecimento é a apreensão intelectual do objeto. É, na magistral lição de
Goffredo Telles Jr., o renascimento do objeto conhecido, em novas condições de
existência, dentro do sujeito conhecedor. Apresen ta-se, portanto, o
conhecimento como uma transferência das propriedades do objeto para o sujeito
pensante. Esse renascimento vai alterar de uma
I. Goflhedo Telles Jr., Tratado da conseqüência, 2. ed., Bushatsky, 1962, p. 7.
2. Goffredo Telles Jr., Tratado, cit., p. 7 e 8; Miguel Reale, Filoso/ìu do
(lireito, 5. ed., Saraiva, v. I, p. 48. O sujeito é aquele que conhece. O termo
objeto advém do latim ob e jectum - aquilo que se põe diante de nós. -Objeto- é
tudo aquilo de que se pode dizer alguma coisa. Ou. como dizem Romero c
Pucciarclli (Lógica, Buenos Aires, 1948, p. 16, § 2u): "Do ponto de vista
formal, denomina-se objeto tudo o que é capaz de admitir um predicado qualquer,
tudo o que pode ser sujeito de um juízo. E, pois, a noção mais geral possível, j
i que não importa que o mencionado objeto exista ou não: hasta que dele se possa
pensar e dizer algo-. Sobre conhecimento, consulte Frmcisco Uchoa dc Albuquerque
e Fernanda Maria Uchoa, Introdu(im uo estudo do direito, São Paulo, Saraiva,
1982, p. I e 2.
3. Goflredo'l'clles Jr., Tratado, cil., p. 7 e 8. Conhecimento para esse autor é
"a tradução cerebral de um objeto''. Salienta esse mestre que o vocábulo
"conhecimento" decorre de "coçnasci'', significan do "cnnosrimentn" (r. 0
direito yuiuuico, 5. ed., São Paulo, Max I,imonad, 1980, p. 204 e 189 e s.l.
* ~...E.c.K..v uc truroauçao a ctencia ao direito
Ciência jurídica 15
certa maneira o sujeito cognoscente, porque a coisa conhecida será sua par te
integrante.
Sendo o conhecimento a representação do objeto dentro do sujeito cognoscente,
torna-se fácil evidenciar os liames que se estabelecem entre os dois elementos
inseparáveis do binômio sujeito e objeto'.
No conhecimento encontram-se frente a frente a consciência cognoscente e o
objeto conhecido. A dualidade de sujeito e objeto é uma relação dupla, ou
melhor, é uma correlação em que o sujeito é sujeito para o objeto e o objeto é
objeto para o sujeito, de modo que não se pode pensar um sem o outro. O sujeito
cognoscente tende para o objeto cognoscível. Esta tendência é a intencionalidade
do conhecimento, que consiste em sair de si, para o objeto, a fim de captá-lo
mediante um pensamento; o sujeito produz um pensamento do objeto. O ato
cognoscitivo refere-se a algo heterogêneo a si ou diferente de si. Todo
pensamento é apreensão de um objeto; pensar é dirigir a atenção da mente para
algo. O objeto, por sua vez, produzirá uma modificação no sujeito conhecedor que
é o pensamento. Este, visto do sujeito, nada mais é senão a modificação que o
sujeito produziu em si mesmo para apossar-se do objeto; visto do objeto é, como
já dissemos, a modificação que o objeto, ao entrar no sujeito, produziu no seu
pensamento.
Assim sendo, aquilo que o "eu" é, quando se torna sujeito cognoscente, o é em
relação ao objeto que conhece. A função do sujeito consiste em apreender o
objeto e esta apreensão apresenta-se como uma saída do sujeito de sua pró pria
esfera, invadindo a do objeto e captando as suas propriedades. O objeto captado
conserva-se heterogêneo em relação ao sujeito, por ser transcenden te, pois
existe em si, tendo suas propriedades, que não são aumentadas, dimi nuídas ou
modificadas pela atividade do sujeito que o quer conhecer. Mas, na relação
cognoscitiva, segundo os moldes kantianos, não é um "ser em si",
4. Goffredo Telles Jr., O direito quântico, cit., p. 204. Oportuno é lembrar a
esse respeito o ensinamento kantiano, segundo o qual com o conhecimento do
sujeito transferem-se ao objeto as estru turas próprias do pensamento do
conhecedor e se reduz o ser, que é o simples termo do "eu" que conhece. O objeto
não é mais do que um produto do sujeito, de sorte que a realidade fica
aprisionada às condições em que funcionou o pensamento. V. Manuel G. Morente.
lluu/a nenlu.r de,/ileso/iu - lições preliminares, trad. Guillertno de Ia Cruz
Coronado, 4. ed., São Paulo, Mestre Jou, 1970, p. 125.
5. Jaspers. Gururlut da ao pensamento /ìlusví/ìco, Cultrix, p. 36: Joseph
Maréchal. O ponto de partida da meta/iri -a, cad. V, sec. 11, cap. I. § 22,
citado por Goffredo ]'cites Jr.. O direito quântico. cil., p. 204; N. Hartmann,
Ontologia v fundamentos, México, 1954, p. 147; Miguel Reale (Sentido do pensar
no nosso tempo, XBF, fase. 100, p. 391) escreve: "O caráter intencional da
consciência e a correlação funcional subjetivo-objetiva são condições do
c•onhecimenui".
6. Johannes Hessen, koria do conhecimento. 5. ed., Coimbra, Arménio Amado Ed.,
1970,It. 26;
P Stanislavs Ladusar s
t . F enontenologia da estrutura dinâmica do conhecimento. Anuis du VIU Con
,4re.cso /uterumcrirmio de Nlasu/ia, v. I , p. 379 e 380; Manuel G. Morente.
Fundamentas de i/oso
l fra,
p. 145-6 e 167: Miguel Reale, Sentido do pensar ent nosso tempo, HBF, cif., fase
100, p. 392-5.
como uma realidade transcendente; despoja-se desse caráter de existente por si e
em si e converte-se em um ser "para" ser conhecido, em um ser posto,
logicamente, pelo sujeito pensante como objeto de conhecimento. Aquilo que o
objeto a conhecer é, o é não "em si" mas em relação ao sujeito conhecedor'. O
objeto enquanto conhecido é uma imagem e não algo do mundo extramental. Essa
imagem não é uma cópia de um objeto, apesar de ser a tradução cerebral desse
objeto, não é idêntica a ele por ser mais pobre em elementos determinantes'. O
sujeito cognoscente é sujeito apenas enquanto há objeto a apreender e o objeto é
somente objeto de conhecimento quando for apreendi do pelo sujeito. Logo, todo
conhecimento envolve três ingredientes: o "eu" que conhece; a atividade ou ato
que se desprende desse "eu" e o objeto atingi do pela atividade'.
Nítida é a correlação entre o sujeito pensante e o objeto pensado. Esse
relacionamento intelectual entre ambos é o que chamamos de conhecimento. Há
dualidade de pensamento e objeto10.
7. Manuel G. Morente, Fundamentos de, filosofia, cit., p. 147-217, 143 e 244-63.
8. Goffredo Telles Jr. (O direito quântico, cit., p. 209-14, 217-74, 277-82)
escreve: Mesmo quan do o estímulo deixa de excitar um órgão sensório, perdura o
conhecimento. Esse conhecimento é a imagem. que é o que fica no cérebro, de unia
sensação cessada. As sensações é que são objetos do conhecimento. Os objetos do
mundo exterior permaneceriam inacessíveis ao conhecimento, pois, ao estimularem
os órgãos dos sentidos, apenas produzem impulsos nervosos sempre iguais. Esta
afirma-ção não nega o mundo exterior• isto porque o conhecimento é efeito da
ação dos objetos sobre os órgãos dos sentidos: se assim não fosse não haveria
explicação possível para a existência de sensações. Cada sensação é a tradução
individualizada de um determinado objeto ou estímulo. A percepção
individuali zada de um todo - de uma árvore, de uma música, p. ex. - resulta da
conjugação de sensações individualizadas das partes desse todo. Os órgãos dos
sentidos ao serem impressionados por um objeto do mundo exterior lançam, pelos
nervos aferentes, um conjunto harmônico de impulsos e não apenas um só impulso.
Esses impulsos produzem, no cérebro, sensações reciprocamente ajustadas,
compondo a percepção do objeto que agiu como estímulo. A qualidade da sensação
depende do centro cerebral a que o impulso é levado. As imagens são
interpretações dadas pelo cérebro a esses impulsos. O cérebro não se limita a
traduzir em sensações os impulsos nervosos, mas também ordena as reações do
organis mo, em resposta aos estímulos que excitaram as células nervosas... A
imagem não é cópia de um objeto, isto porque toda cópia é cópia de um objeto já
conhecido. Como copiar o que não se conhece'?... O objeto é para o sujeito
sempre diferente, segundo os aspectos com que se examina, pois muda de aspecto
conforme o ângulo em que é visto, conforme a distância que o separa do
conhecedor etc. Observa, ainda. Jolivet (Curso de,flo.sofia, Ed. Agir, 1965, v.
3) que, deveras, a razão não é uma cera passiva onde as sensações se inscrevem,
mas um órgão ativo que as ordena, transformando a multiplicidade caótica dos
fatos da experiência em ordenadas unidades do pensamento. A coisa em si (em
oposição à coisa tal qual aparece) permanece, de certo modo, uma incógnita,
segundo Kant. Admite esse filósofo a realidade do objeto independente do sujeito
pensante. As coisas em si ou no unenon.c são incognoscíveis.
9. Luiz Fernando Coelho. Teoria da ciência do direita, São Paulo, Saraiva, 1974,
p. 14.
10. A dual idade entre sujeito pensante e objeto é universal. Se pensamos uma
maçã mediante o pensamento de uma maçã, ambas as coisas não se identificam; a
maçã é doce e posso nuxdê-la, o pensamento nem é doce, nem tem a possibilidade
de ser mordido. Se penso um triângulo mediante o pensamento de um triângulo, o
triângulo possui três ângulos, mas o pensamento que lhe é cor espon dente carece
(te ângulos (v. Carlos Cossio, Teoria egológica del Se echo V e/ concepto
jurídico de lihertad, 2. ed., Buenos Aires, Aheledo-Perros. 1964, p. 227).
16
Cabe salientar ainda que o conhecimento de algo está condicionado pelo sistema
de referência daquele que conhece, logo, não há conhecimento abso luto, pois ele
só pode ser relativo".
Ao se relacionar um conhecimento a um sistema de referência, formula se um
juízo, que é o ato mental pelo qual se afirma ou se nega uma idéia. Impossível é
o conhecimento sem esta operação de enunciar e combinar juízos entre si, uma vez
que o conhecimento implica sempre uma coerência entre os juízos que se enunciam
e, além disso, só se poderia transmitir conhecimentos mediante juízos''.
QUADRO SINÓTICO
NOÇÃO PRELIMINAR DE CONHECIMENTO E CORRELAÇÃO ENTRE
SUJEITO COGNOSCENTE E OBJETO COGNOSCÍVEL
Segundo Goffredo Telles Jr., conhecimento é o renascimento do objeto conhecido,
em no vas condições de existência dentro do sujeito conhecedor.
1. CONCEITO DE CONHECIMENTO
Nítida é a correlação entre sujeito pensante e objeto pensado, por ser o
conhecimento a re presentação do objeto dentro do sujeito cognoscente, de modo
que aquilo que o "eu"
2. CORRELAÇÃO ENTRE _ é, quando se torna sujeito conhecedor, o é em
SUJEITO E OBJETO relação ao objeto que conhece, e aquilo que o objeto a conhecer
é, o é não "em si", mas em relação ao sujeito pensante, isto é, converte se em
um ser "para" ser conhecido, em um ser posto, logicamente, pelo sujeito
cognos cente como objeto de conhecimento.
11. Goffredo Telles Jr. (O direito quântico, cit., p. 284-93) entende que o
sistema de referência é produto de muitas causas: do legado genético,
aprendizagem, experiências etc. Cada homem possui seu próprio universo
cognitivo, mas seu sistema de referência pode não pertencer exclusivamente a
ele, por ser de unia comunidade inteira. Oriundos das mesmas contingências, é
natural que os sistemas de referência de pessoas de uni mesmo grupo sejam
semelhantes uns aos outros. Tais sistemas constituem
um patrimônio cultural comum.
12. V. Ladusans, Fenomenologia, Anai.c do VIU Congresso lnteranrericano de
Filosofia, cit., p. 386; Miguel Reale, Filosofia do direito, cit., v. I, p. 54;
Gofliedo Telles Jr., O direito qucóntico, cit., p. 292 e 293. Sobre conhecimento
e correlação entre sujeito cognoscente e objeto, consulte M. Helena
Diniz, A ciênciaJjurídica 2. ed. São
Paulo, Resenha Universitária, 1982, p. 7, notas 21 e 22; p. 168-72,
nota 59.
2. CONHECIMENTO CIENTÍFICO
A. CARACTERES E CONCEITO
Chegados a essa altura, cremos que não soaria como um despropósito respondermos
à indagação: o que é ciência?
Antes de iniciarmos nosso estudo sobre o tema, ouçamos, pela sua oportu nidade e
sabedoria, a lição de Tércio Sampaio Ferraz Jr.", que evidencia que o vocábulo
"ciência" não é unívoco, se bem que com ele se designe um tipo espe cífico de
conhecimento; mas não há um critério único que determine a extensão, a natureza
e os caracteres deste conhecimento, isto porque os vários critérios têm
fundamentos filosóficos que extravasam a prática científica e, além disso, as
modernas disputas sobre tal termo estão intimamente ligadas à metodologia.
Entendemos que, na acepção vulgar, "ciência" indica conhecimento, por razões
etimológicas, já que deriva da palavra latina scientia, oriunda de scire, ou
seja, saber. Mas, no sentido filosófico, só merece tal denominação, como veremos
logo mais, aquele complexo de conhecimentos certos, ordenados e conexos entre
si". A ciência é, portanto, constituída de um conjunto de enun ciados que tem
por escopo a transmissão adequada de informações verídicas sobre o que existe,
existiu ou existirá. Tais enunciados são constatações. Logo, o conhecimento
científico é aquele que procura dar às suas constatações um caráter estritamente
descritivo, genérico, comprovado e sistematizado. Cons titui um corpo
sistemático de enunciados verdadeiros. Como não se limita apenas a constatar o
que existiu e o que existe, mas também o que existirá, o conhecimento científico
possui um manifesto sentido operacional, constituin do um sistema de previsões
prováveis e seguras, bem como de reprodução e inferência nos fenômenos que
descreveu
13. Direito, retórica e connuucot•do, São Paulo, Saraiva, 1973, p. 159 e 160.
14. Alves da Silva /ntrodu1 r no ô ciência lo dircei!o São Paulo, Lr1. i a
s. 1940, p. _ 5. C 'in
S:dcsana
suite Yulo Brandão, O problema do conhecimento e a sua exala posição, RBF, fase.
105, p. 92-8.