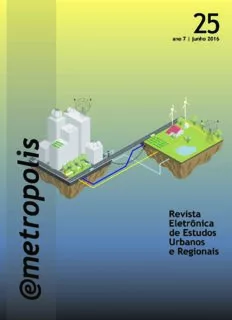Table Of Contentrevista eletrônica
e-metropolis
ISSN 2177-2312
Vinculada à rede interinstitucional do Observatório das Metrópoles (UFRJ),
a revista eletrônica de estudos urbanos e regionais e-metropolis é editada
por uma equipe de professores e pesquisadores e tem por objetivo principal
suscitar o debate e incentivar a divulgação de trabalhos filiados ao planeja-
mento urbano e regional e áreas afins. A e-metropolis busca, portanto, se
constituir como um meio ágil de acesso democrático ao conhecimento, que
parte do ambiente acadêmico e almeja ir além deste, dirigindo-se a todas
as pessoas que se interessam pela dinâmica da vida urbana contemporânea
em seu caráter multidisciplinar.
Publicadas trimestralmente, as edições da e-metropolis mantêm, em geral,
uma estrutura que se compõe em duas partes. Na primeira parte da revista
encontram-se os artigos estrito senso, que iniciam com um artigo de capa,
no qual um especialista convidado aborda um tema relativo ao planejamen-
to urbano e regional e suas interfaces, seguido dos artigos submetidos ao
corpo editorial da revista e aprovados por pareceristas, conforme o formato
blind-review. A segunda parte é composta por uma entrevista, por resenhas
de obras recém-lançadas (livros e filmes), pela seção especial – que traz a
ideia de um texto mais livre e ensaístico sobre temas que tangenciem as
questões urbanas – e, finalmente, pelo ensaio fotográfico, que faz pensar
sobre as questões do presente da cidade por meio de imagens fotográficas.
Para submissão de trabalhos, o corpo editorial recebe artigos, ensaios
fotográficos, resenhas e textos para a seção especial em fluxo contínuo, as-
sim como sugestões e críticas. Para mais informações, sugerimos consultar
Observatório das Metrópoles
o site da revista: www.emetropolis.net.
Prédio da Reitoria, sala 522
Cidade Universitária – Ilha do Fundão
21941-590 Rio de Janeiro RJ
Tel: (21) 2598-1932
Fax: (21) 2598-1950
E-mail:
[email protected]
Website:
www.emetropolis.net
editor-chefe
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro
editores
Ana Carolina Christóvão
Carolina Zuccarelli
Eliana Kuster
Fernando Pinho
Juciano Martins Rodrigues
Patrícia Ramos Novaes
conselho editorial
Pedro Paulo Machado Bastos
Renata Brauner Ferreira
Profª Drª. Ana Lúcia Rodrigues (DCS/UEM)
Samuel Thomas Jaenisch
Prof Dr. Aristides Moysés (MDPT/PUC-Goiás)
Prof Dr. Carlos de Mattos (IEU/PUC-Chile)
Prof Dr. Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ)
Profª Drª. Claudia Ribeiro Pfeiffer (IPPUR/UFRJ)
assistente
Prof Dr. Emilio Pradilla Cobos (UAM do México)
Thaís Velasco Profª Drª. Fania Fridman (IPPUR/UFRJ)
Prof Dr. Frederico Araujo (IPPUR/UFRJ)
Profª Drª. Héléne Rivière d’Arc (IHEAL)
Prof Dr. Henri Acserald (IPPUR/UFRJ)
Prof Dr. Hermes MagalhãesTavares (IPPUR/UFRJ)
Profª Drª. Inaiá Maria Moreira Carvalho (UFB)
Prof Dr. João Seixas (ICS)
Prof Dr. Jorge Natal (IPPUR/UFRJ)
Prof Dr. Jose Luis Coraggio (UNGS/Argentina)
Profª Drª. Lúcia Maria Machado Bógus (FAU/USP)
Profª Drª. Luciana Corrêa do Lago (IPPUR/UFRJ)
Profª Drª. Luciana Teixeira Andrade (PUC-Minas)
Prof Dr. Luciano Fedozzi (IFCH/UFRGS)
Prof Dr. Luiz Antonio Machado (IUPERJ)
Prof Dr. Manuel Villaverde Cabral (ICS)
Prof Dr. Marcelo Baumann Burgos (PUC-Rio/CEDES)
Profª Drª. Márcia Leite (PPCIS/UERJ)
Profª Drª.Maria Julieta Nunes (IPPUR/UFRJ)
Profª Drª. Maria Ligia de Oliveira Barbosa (IFCS/UFRJ)
Prof Dr. Mauro Kleiman (IPPUR/UFRJ)
Prof Dr. Robert Pechman (IPPUR/UFRJ)
Prof Dr. Robert H. Wilson (University of Texas)
Profª Drª. Rosa Moura (IPARDES)
Ms. Rosetta Mammarella (NERU/FEE)
Prof Dr. Sergio de Azevedo (LESCE/UENF)
Profª Drª. Simaia do Socorro Sales das Mercês (NAEA/UFPA)
Profª Drª Sol Garson (PPED/IE/UFRJ)
Profª Drª. Suzana Pasternak (FAU/USP)
Editorial parte orientadas pelos modelos difun-
didos por organismos internacionais
como o Banco Mundial e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
Abordando temas diversos, as
nº 25 ▪ ano 7 | junho de 2016
questões levantadas pelos autores
permanecem totalmente pertinentes
às discussões atuais a respeito das
metrópoles, e aos questionamentos
Apresentamos a nossos leito- tos territoriais e o ajuste espacial que vêm sido insistentemente levan-
res a nova edição da Revista na cidade olímpica, Orlando Santos tados a respeito de que tipo de cidade
e-metropolis, na qual esta- Junior e Patrícia Novaes argumen- queremos e a quem ela deve atender
mos trazendo temas que remetem a tam que o contexto da preparação da em suas reformulações, sua espacia-
aspectos bastante atuais das metró- cidade do Rio de Janeiro para rece- lidade, seu planejamento e sua polí-
poles brasileiras. Começamos com ber dois megaeventos esportivos, a tica.
nosso artigo de capa, A hinterlândia, Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Na entrevista desta edição, Eri-
urbanizada?, no qual o professor de Olímpicos em 2016, levou a profun- ck Omena de Melo entrevista Marie
Teoria Urbana da Harvard Univer- das reestruturações urbanas da cidade Huchzermeyer, professora da Esco-
sity, Neil Brenner, traz uma nova e do seu padrão de governança, que la de Planejamento e Arquitetura na
perspectiva crítica a respeito da cha- caminharam em direção ao que pode Universidade Witswatersrand, em
mada “Era Urbana” ao novamente ser caracterizada de uma urbanização Joanesburgo. Huchzermeyer tem de-
problematizar os conceitos e as teo- neoliberal. Neste contexto, os auto- senvolvido um estudo sobre a rela-
rias que regem o nosso conhecimento res discutem como a reconfiguração ção da produção intelectual de Henri
sobre os fenômenos de urbanização. urbana de alguns espaços da cidade Lefebvre com a noção do “direito à
Em um primeiro momento, Brenner podem apontar para processos de cidade” na perspectiva das regiões
problematiza a metodologia de men- gentrificação e para o aprofundamen- semi-periféricas e seus movimentos
suração urbana utilizada pela Orga- to das desigualdades socioespaciais. sociais urbanos. Ao discorrer sobre
nização das Nações Unidas (ONU), Em seguida o texto Hierarquia, os resultados desta pesquisa, a pro-
que anunciou em seu relatório que policentrismo e complexidade em fessora traça um quadro comparativo
mais de 50% da população mundial sistemas urbanos, de Carlos Gonçal- da questão do direito à cidade em seu
já estaria vivendo em meios urbanos ves, trata de como a discussão sobre país natal, a África do Sul, e no Bra-
desde 2008. O autor levanta dúvi- a configuração dos sistemas urbanos sil, além de explicar o seu interesse
das acerca do que é designado como mantém centralidade nos estudos re- pela relação entre Lefebvre e o con-
“zona urbana” para cada país e, di- gionais e urbanos. O autor propõe, texto latino-americano como produto
retamente, para seus respectivos con- nessa perspectiva, as possibilidades de uma tentativa de leitura das cida-
textos demográficos, culturais e so- de se integrar analiticamente as no- des a partir da periferia.
ciais, indicando, portanto, que esses ções de hierarquia, de rede, de po- A seção especial apresenta alguns
dados mereceriam análise mais qua- licentrismo e de complexidade na resultados do curso de extensão “As
litativa. Além disso, o autor também compreensão dos sistemas urbanos. cidades e a produção de subjetivida-
cita que existem na atualidade certos Finalizando, temos o artigo Reas- des”, desenvolvido pelos estudantes
fenômenos de urbanização que estão sentamento involuntário em projetos do Programa de Pós-Graduação em
invisíveis ao paradigma científico he- de saneamento em Belém do Pará. Psicologia (UFRJ), uma reflexão co-
gemônico. Como exemplo, ele fala O texto de José Julio Ferreira Lima letiva sobre os processos de segrega-
da hinterlândia como representante e de Monique Bentes Machado Sar- ção socioespacial em curso e sobre a
de um conjunto de paisagens e terri- do Leão analisa alguns episódios de experiência sensível dos corpos na
tórios que, mesmo não dispondo de remoção e reassentamento decorren- cidade.
uma “imagem urbana”, são espaços tes de grandes projetos de saneamen- Por fim, em nosso ensaio foto-
fundamentais à reprodução das cida- to que foram realizados pelo poder gráfico, apresentamos o trabalho de
des. Por ser uma grande abastecedora público na cidade de Belém ao lon- Fabiano Gozzo, que nos mostra um
de recursos naturais às necessidades go das últimas décadas. Os autores outro olhar sobre a Estação Brás do
urbanas de produção, a hinterlândia apresentam alguns pontos críticos Metrô de São Paulo. O “olhar passa-
também é um espaço urbanizado, dessas intervenções e questionam as geiro” de Gozzo acompanha “a poé-
mas que não recebe atenção. soluções que vem sendo adotadas e tica urbana” do labirinto de cimento e
No artigo Rio de Janeiro: Impac- as diretrizes dessas ações, em grande ferro da estação. ▪
editorial
Índice
nº 25 ▪ ano 7 | junho de 2016
Capa Especial
06 A hinterlândia, urbanizada? 35 Reassentamento 49 Derivas urbanas
The hinterland, urbanized? involuntário em projetos e percursos subjetivos:
de saneamento em um relato da experiência
Por Neil Brenner
Belém do Pará de produção do curso
Tradução: Pedro Paulo
“As cidades e a produção
Involuntary resettlement
Machado Bastos
de subjetividades”
in sanitation projects
in Belém, Pará Urban drift and subjective
courses: a story on the
Por Monique Bentes
Artigos Machado Sardo Leão experience of lecturing
“Cities and the production
e José Júlio Ferreira Lima
12 Rio de Janeiro: Impactos of subjectivities” course
territoriais e o ajuste Por Alice Vignoli Reis,
espacial na cidade olímpica Karoline Ruthes Sodré
Ensaio
Rio de Janeiro: territorial e Rafael Ostrovski
impacts and the spatial
44 Um olhar passageiro
adjustment in the
A passenger look
Olympic city
Por Fabiano Gozzo Entrevista
Por Orlando Alves
dos Santos Junior
54 Por uma leitura
e Patrica Ramos Novaes
léfèbvriana da periferia
For a Léfèbvrian reading
26 Hierarquia, policentrismo
of the periphery
e complexidade em
Com Marie Huchzermeyer
sistemas urbanos
Por Erick Omena
Hierarchy, polycentrism
and complexity
in urban systems
Por Carlos Gonçalves
ficha técnica
Projeto gráfico A Ilustração de capa foi feita por
e editoração eletrônica Renato Mãozão Tupinambá,
arquiteto e urbanista.
Paula Sobrino
[email protected]
[email protected] http://renatomaozao.wix.com/maozao
Revisão
Aline Castilho
[email protected]
capa
Neil Brenner
A hinterlândia,
urbanizada?
Começo este artigo com a lem- popularmente aceito, o leitor pode
brança já familiarizada de um acabar desconhecendo a outra perspec-
fato aparentemente inexpug- tiva de interpretação deste autor sobre
nável e que foi divulgado a partir de o tema. É até mesmo capaz de que
uma fonte confiável: em 2007 os es- as expectativas de leitura recaiam em
tatísticos da Organização das Nações ideias mais comuns sobre as cidades,
Unidas (ONU) determinaram que tais como qual seria o papel delas nas
mais de 50% da população mundial, transformações globais da atualidade,
naquele momento, já estava vivendo ou sobre a reestruturação em curso pela
em áreas urbanas. Embora permeada qual vêm passando. Isso nos levaria a
por esforços que procuram decifrar o levantar tais questões seguidas de um Neil Brenner
modo como se deu a acelerada indus- debate, nesses termos, sobre as cidades. é professor de Teoria Urbana e Diretor do
Urban Theory Lab da Harvard Graduate
trialização capitalista no século XIX no Todo mundo parece concordar que
School of Design. É cientista político
eixo da Europa-América do Norte, a elas são unidades espaciais elementares e geógrafo. Seu mais recente livro é
noção de um mundo em urbanização da idade urbana contemporânea. Con- Implosions / Explosions: towards a Theory
of Planetary Urbanization. Nesta obra,
tornou-se hoje um quadro interpreta- tudo, a que mais o conceito de urbano ele discute a necessidade de se parar de
tivo onipresente1. E em virtude de o poderia possivelmente referir-se? pensar a cidade como uma coleção de
início deste artigo trazer um dado já prédios e de pessoas ocupando um deter-
minado espaço definido para dar início ao
enfoque, em vez disso, na ideia de que
A PROBLEMÁTICA a urbanização é um processo histórico
1 Neil Brenner and Christian Schmid, “The DA URBANIZAÇÃO e global que se estende a cada
rincão do planeta.
‘urban age’ in question,” International Journal
of Urban and Regional Research, 38, 3, 2014,
A noção de urbanização tem sido uti- [email protected]
731-755. Para dados mais específicos divul-
lizada de maneiras surpreendentemen-
gados pela ONU, acesse: <http://esa.un.org/ __________
unpd/wup/>. Acessado em 5 jul. 2016. te a-teóricas, como se fosse uma base Tradução: Pedro Paulo Machado Bastos
6
nº 25 ▪ ano 7 | junho de 2016 ▪ e-metropolis
capa
de interpretação puramente descritiva e empírica pertrófica”, seja por meios de aumento da densidade
para referenciar uma tendência natural de organiza- e extensão das áreas metropolitanas já existentes, seja
ção espacial humana. Dentro desse contexto, como por meio da criação de novas zonas de assentamento
Ross Exo Adams explica: “Assim como as condições urbano ex nihilo às margens de antigas áreas rurais ou
climáticas, a urbanização é algo que existe ‘à nossa dos principais corredores de transporte; ou através da
revelia’, uma condição bastante ‘complexa’ de ser intensificação do fluxo migratório do rural para ur-
apresentada como um objeto restrito à análise dos bano ocasionado pelos efeitos nocivos de programas
seus próprios termos e, portanto, complexa de ser de ajustamento estrutural de terra, grilagem, expan-
mapeada, monitorada, comparada e catalogada”2. A são agroindustrial, pilhagem ecológica etc.6.
compreensão empirista, naturalista e quase ambien- Por outro lado, esta urbanização vista singular-
talista da urbanização persistiu de várias maneiras ao mente como o reflexo do crescimento das zonas ur-
longo do século XX. Nas décadas mais recentes, os banas da cidade é autoevidente. Analisando-as pela
modelos naturalísticos de urbanização ganharam no- ótica de um nível empírico básico, as limitações dos
vos enquadramentos interpretativos com base no vo- dados divulgados pelo Censo da ONU sobre a urba-
lume de dados produzido pelas ciências estatísticas, nização são bem conhecidas. O problema simples,
que, por sua vez, tendem a considerar a densidade mas ainda aparentemente intratável, ao qual o soci-
urbana como uma condição basicamente semelhan- ólogo Kingsley Davis já havia dedicado grande aten-
te ao de um sistema biológico fechado sujeito a leis ção crítica na década de 1950, refere-se ao fato de
Neil Brenner
científicas, previsíveis e, portanto, tecnicamente pro- que cada Censo Nacional utiliza seu próprio critério
gramáveis3. para medir as condições urbanas, tornando inconsis-
As declarações contemporâneas da ONU quan- tentes os dados comparativos internacionais sobre a
to a este mundo majoritariamente urbano em que urbanização. Na década atual, por exemplo, entre os
estamos vivendo, assim como as principais vertentes países que demarcam seus tipos de assentamentos ur-
dos discursos de políticas globais voltadas ao planeja- banos com base no tamanho da população (101 dos
mento e ao desenho urbano, ainda compreendem o 232 Estados Membros da ONU o fazem), o limiar
fenômeno da urbanização através de um dispositivo4 para tal classificação varia de 200 para 50 mil pessoas;
de conhecimento naturalista, a-histórico e empirista. menos de 23 países optam pelo mínimo de duas mil,
Nesse caso, a urbanização é vista como o crescimen- ao passo que 21 outros países especificam tal valor
to populacional simultâneo à difusão espacial das para cinco mil. Uma série de problemas em termos
cidades, sendo, portanto, concebida como tipos ge- de comparabilidade surge daí, tendo em vista que
néricos e universalmente aplicáveis de assentamentos as localidades “urbanas” dentro de uma jurisdição
humanos. Uma vez entendida essa ideia, a era urbana nacional podem ter pouco em comum com aquelas
contemporânea representaria, então, uma congrega- classificadas do mesmo modo em outro lugar.
ção de tendências que aumentam cumulativamente Outros critérios de mensuração baseados em re-
a população nos centros urbanos. Por esse ângulo, ferências da administração pública, densidade, infra-
a metanarrativa da era urbana contribuiria para ser- estrutura e/ou em índices socioeconômicos utiliza-
vir a um quadro não apenas de interpretação, mas dos pelos outros 131 Estados Membros da ONU,
também de justificativa a uma enorme variedade de quando comparados entre si, contribuem ainda mais
intervenções espaciais destinadas a promover, segun- para desalinhar um conjunto de dados já extrema-
do classificação do geógrafo Terry McGee, a “domi- mente heterogêneo. Algumas áreas administrativas
nância da cidade”5. deveriam ser, portanto, automaticamente classifica-
Em todo o mundo, o objetivo comum de tais es- das como urbanas? O critério de densidade popu-
tratégias de urbanização é o de construir a “cidade hi- lacional, se houvesse, seria o mais apropriado para
classificá-las como tais? A concentração de níveis de
emprego não rurais deveria ser vista como peculiar a
2 Tradução livre. Ver original: Ross Exo Adams, “The burden of áreas urbanas (como acontece na Índia, apesar de tal
the present: on the concept of urbanisation,” Society and Spa-
critério levar em conta apenas os residentes do sexo
ce, disponível em: <http://societyandspace.com/2014/02/11/
masculino)? Em suma, esta rápida análise de como
ross-exo-adams-the-burden-of-the-present-on-the-concept-
-of-urbanisation/>. Acessado em 5 jul. 2016. a ONU tabula e interpreta seus dados revela que a
3 Brendan Gleeson, “What role for social science in the ‘ur-
ban age’,” International Journal of Urban and Regional Re-
search, 37, 5, 2013, 1839-1851. 6 Max Ajl, “The hypertrophic city versus the planet of fields,”
4 Brenner e Schmid, “The ‘urban age’ in question.” em Neil Brenner (ed.), Implosions/Explosions: Towards a Study
5 Terry McGee, The Urbanization Process in the Third World. of Planetary Urbanization (Berlin: Jovis, 2014), pp. 533-550;
London: Bell & Sons, 1971. Mike Davis, Planet of Slums (London: Verso, 2006).
7
nº 25 ▪ ano 7 | junho de 2016 ▪ e-metropolis
capa
noção de um mundo majoritariamente urbano não é las propriedades do processo de urbanização7.
um fato, assim, tão evidente. É, antes de mais nada, Em segundo lugar, no dispositivo do saber hege-
um artefato estatístico construído por meio de um mônico, a urbanização é definida como o crescimento
agrupamento grosseiro de dados dos Censos nacio- das “cidades” enquanto unidades de assentamento es-
nais, que, por sua vez, derivam de definições incon- paciais limitadas dentro de um território. Esta equa-
sistentes do fenômeno a ser mensurado. ção conceitual (urbanização = crescimento da cidade),
juntamente com a hipótese igualmente difundida da
limitação espacial, exige, por lógica, diferenciar as
INCORPORANDO O ENTORNO
cidades, enquanto unidades, de locais supostamente
CONSTITUTIVO não urbanos existentes fora delas. Entretanto, a de-
marcação de uma dicotomia coerente entre urbano
Aqui surge um problema teórico mais profundo dian- e não urbano tem se mostrado problemática desde
te do discurso da era urbana contemporânea. Mesmo o momento em que se deu o aceleramento da indus-
se a especificidade do crescimento da “cidade” fosse trialização do capital em todo o mundo no século
relacionada a outras formas de reestruturação demo- XIX. Assim sendo, na perspectiva popular do dispo-
gráfica, socioeconômica e espacial, sendo possível, sitivo do saber urbano, é preliminarmente necessá-
deste modo, ser coerentemente delineada também rio delinear o que seria um “entorno não urbano”
por meio de indicadores geoespaciais avançados que (lembrando-se, ao mesmo tempo, de que este se trata
detectassem certas aglomerações (por exemplo), a de um local que contribui diretamente na constitui-
questão permaneceria: como esboçar o processo de ção urbana das cidades), pois somente nesses termos
urbanização em termos conceituais? Apesar de sua é que a heterogeneidade particularizada ao urbano
representação generalizada como um parâmetro ge- poderia ser mais bem demarcada; embora, por ou-
nérico e neutro permeado por relações espaciais, o tro lado, delineá-lo também se mostraria impossível,
processo de urbanização deveria ser submetido a um uma vez que (a) não existem critérios padronizados
exame mais teórico. Desse modo, pelo menos duas para diferenciar tipos de assentamentos urbanos de
grandes fissuras epistemológicas seriam reveladas não urbanos; além de que (b) as aparentes fronteiras
– logicamente irresolúveis, mas que acarretam pro- entre assentamentos urbanos e seu suposto “exterior”
blemas analíticos recorrentes – dentro do dispositivo não urbano têm sido constantemente expandidas e
hegemônico do conhecimento urbano. reformuladas em todas as escalas espaciais.
Em primeiro lugar, tal como é popularmente en- Apesar da renitente naturalização e incorporação
tendida, a urbanização implica a difusão universal das tipologias históricas de assentamentos (urbanos,
das “cidades” como unidades elementares de assenta- suburbanos, rurais, silvestres) no discurso geográfico
mento humano. Contudo, como são amplamente sa- popular, a extensão territorial inevitável de grandes
bidas, essas unidades de assentamento, supostamente centros urbanos para as suas “franjas”, periferias e
universais, têm assumido diversas morfologias e sido Umlände tem sido amplamente observada pelos ur-
igualmente reorganizadas através de uma variedade banistas e planejadores urbanos do século XXI. Na
de escalas espaciais. Também têm sido remensuradas verdade, apesar da tendência em ser relegado pelo câ-
por meio de uma ampla gama de forças institucionais, none das narrativas históricas, o processo de extensão
políticas, sociais, militares e ambientais, e articuladas territorial urbano foi uma das preocupações forma-
distintamente às suas áreas vizinhas, paisagens e ecos- tivas na qual a concepção moderna da disciplina de
sistemas, bem como a outros centros populacionais planejamento urbano se consolidou. Em outras pa-
mais distantes. Diante deste contexto, e dada esta lavras, este campo do conhecimento tem procurado
heterogeneidade que caracteriza os padrões atuais de desde o princípio guiar-se por um viés mais territorial
aglomeração, a noção universal do que “é” a cidade do que simplesmente circunscrever-se a condições de
poderia ser mantida? E se nós rejeitássemos de fato a análises básicas na produção do seu saber, tais como
equação hegemônica simplista que formula a urbani- densidade populacional e identificação de assenta-
dade que caracteriza as cidades, não deveríamos tam-
bém abandonar a visão de urbanização tida como um
processo universal único de difusão espacial? Como
alternativa, a heterogeneidade e a diferenciação não 7 Ver Jenny Robinson, “Cities in a world of cities: the com-
parative gesture,” International Journal of Urban and Regional
deveriam ser reconhecidos apenas como atributos
Research, 51, 1, 2011, 1-23; e Ananya Roy, “The 21st century
empiricamente complexos, mas também como atri-
metropolis: new geographies of theory,” Regional Studies, 43,
butos intrínsecos, produzidos sistematicamente, pe- 6, 2009, 819-830.
8
nº 25 ▪ ano 7 | junho de 2016 ▪ e-metropolis
capa
mentos espaciais bem limitados8. Assim, se confrontarmos essa interação inevitá-
Não menos importante, o desenvolvimento das vel entre acumulação e espoliação dos arranjos es-
aglomerações capitalistas têm sido intimamente en- paciais, considerando também a difusão massiva das
trelaçado com as transformações em grande escala de condições urbanas através das paisagens variadas do
espaços não urbanos, muitas das vezes localizados a capitalismo global, a concepção de urbanização ba-
consideráveis distâncias dos grandes centros de ca- seada na ideia de “assentamentos” poderia ser manti-
pital, trabalho e comércio. Mumford descreveu esta da? Poderia, ainda, o “fenômeno” urbano continuar
relação como a ação combinada entre “up-building”, ancorado exclusivamente “dentro” da cidade?11 De
isto é, a implantação de um conjunto de tipos de fato, à medida que as rígidas limitações analíticas im-
indústria e de infraestrutura, tanto verticais e hori- postas por essas suposições “pontilhadas” do urbano
zontais como subterrâneos, e “un-building” (Abbau), vão ficando mais flexíveis, os dualismos estáticos da
que seria o processo de degradação de paisagens ao teoria urbana popular (cidade/campo, urbano/rural,
redor das zonas urbanas da cidade por meio da in- interior/exterior, sociedade/natureza) também se tor-
tensificação do papel desses locais como supridores nam mais capazes de serem rapidamente superados.
de energia, matérias-primas, água e comida, e tam- Desse modo, novos horizontes analíticos se abrem: as
bém como autogestoras dos resíduos produzidos geografias da urbanização podem ser produtivamen-
dentro de suas fronteiras9. te reconceitualizadas em formas que deem visibili-
Com a desapropriação das populações outrora dade não apenas aos variados padrões e tendências
rurais por meio do adensamento territorial para o de aglomeração, mas também à contínua produção e
aumento do uso da terra, a chegada de investimen- transformação do tecido urbano, que se constitui de
tos de infraestrutura de larga escala e a industrializa- maneira desigual por vastas áreas onde predomina a
ção progressiva de economias rurais, em geral para atividade industrial (agricultura, extração, silvicultu-
custear a extração, cultivação, produção e circulação ra, turismo e logística). Geografias que, ainda hoje,
de mercadorias, facilitou diretamente o crescimento são classificadas erroneamente em função da herança
urbano das cidades através de mudanças colossais e deixada pelas noções do que seria o interior, o rural,
abruptas, se não desiguais, de naturezas industriais e a hinterlândia e/ou o deserto.
ambientais em todo o planeta. Dadas as totalizações e os pontos cegos associa-
Por esse ângulo, o rural, o interior ou a hinter- dos ao dispositivo do conhecimento urbano herda-
lândia não podem ser reduzidos a meras áreas coad- do, como uma teoria urbana que não considerasse
juvantes de cultivo que deram o suporte necessário um lado “externo” e oposto ao urbano conseguiria
para catapultar as operações econômicas principais se posicionar na busca por novas perspectivas pro-
dos grandes centros populacionais. Independente- dutivas tanto para o campo da pesquisa como para o
mente da sua composição demográfica, desde a den- campo da ação, diante de paisagens de urbanização
sa rede de cidades em torno do Rio Ganges ou do emergente em nível planetário?12
Rio Java ao deserto estéril da Sibéria ou o deserto dos
estepes de Gobi, ao longo da história do desenvol-
DESENHANDO OUTRAS
vimento capitalista global desigual, os espaços “não
urbanos” têm sido continuamente operacionalizados URBANIZAÇÕES
a favor de processos de formações urbanas. Estes es-
paços são, portanto, estrategicamente centrais aos As estratégias teóricas propostas aqui têm o objetivo
processos de destruição criativa que sustenta a “urba- não simplesmente de permitir um melhor reconhe-
nização do capital”, no mesmo grau de importância cimento concreto da complexidade empírica existen-
dos extensos e densos centros urbanos que por muito te no estudo dos centros urbanos, mas também de
tempo monopolizaram a atenção dos urbanistas10. prover uma base epistêmica para reconceitualizar as
propriedades essenciais deste processo que estamos
investigando, abrindo, portanto, novos horizontes
8 Ver John Friedmann e Clyde Weaver, Territory and Func-
tion. Berkeley: University of California Press, 1979. Como
contrapartida, ver o livro Cities of Tomorrow (Cambridge, Johns Hopkins University Press, 1985.
Mass.: Blackwell, 2002), de Peter Hall, que incorpora uma 11 Henri Lefebvre, The Urban Revolution. Traduzido para o
abordagem cêntrica da cidade na história do planejamento inglês por R. Bononno. Minneapolis: University of Minne-
urbano. sota Press, 2003 [1970]; Brenner e Schmid, “Towards a new
9 Lewis Mumford, The City in History. New York: Harcourt, epistemology.”
Brace and World, 1961, 446-481. 12 Neil Brenner, “Urban theory without an outside,” em Im-
10 David Harvey, The Urbanization of Capital. Baltimore: plosions/Explosions, pp. 14-35.
9
nº 25 ▪ ano 7 | junho de 2016 ▪ e-metropolis
capa
para entender e influenciar a urbanização contem- • A forma capitalista de urbanização continua a
porânea. Como Christian Schmid e eu chegamos a produzir padrões contextuais de aglomeração, mas
argumentar em outro artigo, as fissuras epistêmicas isso tem transformado inevitavelmente, do mesmo
tanto do discurso como da prática urbana contem- modo, espaços não urbanos em intensas e extensas
porânea só poderão ser transcendidas através de uma zonas de infraestrutura industrial – as paisagens ope-
ruptura radical com o dispositivo do conhecimento racionais. Em contraste às conhecidas hinterlândias,
urbano hegemônico devido à condição urbana em nas quais diferentes “dádivas” da natureza presentes
que este se ancora13. Em qualquer campo intelectual nesses locais (como matérias-primas, fontes de ener-
e prático, novos dispositivos de interpretação conse- gia, trabalho, comida e água) são apropriadas para a
guirão emergir somente quando as condições histó- produção de commodities, as paisagens operacionais
ricas desestabilizarem esses enquadramentos dóxicos consistem no redesenho industrial das atividades ex-
da pesquisa, engendrando, dessa maneira, a busca de trativistas, agricultoras e logísticas desses territórios
uma base alternativa de compreensão e transforma- para engendrar uma melhor otimização das condi-
ção do mundo. Como evidenciado na recente rodada ções sociais, institucionais, biológicas, ecológicas e
de debates epistemológicos entre urbanistas críticos, de infraestrutura que favoreçam a acumulação de
o campo da teoria urbana parece atualmente estar no capital, em geral voltado à exportação. Assim sendo,
cerne de tal questão. enquanto as hinterlândias são meras “incubadoras”
Nesse contexto, o atual renascimento do interesse da produção de commodities dentro de um determi-
no rural, no interior e na hinterlândia entre muitos nado terreno, as paisagens operacionais, por sua vez,
arquitetos, teóricos e urbanistas já seria a representa- são espaços planejados mediante as configurações do
tividade de um saliente, mas ainda indeterminado, espaço urbano-industrial, sendo reflexivamente dese-
desenvolvimento desta problemática. Mas, será que nhados e monitorados para acelerarem e intensifica-
essas iniciativas mais focadas no “rural” seriam apenas rem a acumulação de capital no mercado mundial.
parte de uma mudança estratégica por parte dos ar-
quitetos no desenvolvimento de projetos mais criati- As implicações dessas ideias para as intervenções
vos de captação de energia alternativa? Ou, pensando arquitetônicas nos variados espaços não urbanos do
de outra forma, uma exploração arquitetônica mais mundo ainda precisam ser elaboradas. No mínimo,
sistemática de espaços não urbanos do mundo po- pelo menos, já levantam dúvidas sobre qualquer
deria contribuir com o projeto de desenvolvimento abordagem que aspire a criar enclaves fortificados e
de novas análises, perspectivas e desenhos do nosso privatizados (voltados ao turismo de luxo ou espe-
tecido urbano planetário em emergência? Duas pro- cializados em atividades industriais de exportação)
postas em vias de conclusão poderiam oferecer algum nesses antigos meios rurais. Sem mencionar a ênfa-
tipo de suporte para esta “empreitada”: se que a implicação dessas ideias vem incidindo no
desafio de se estabelecer modos políticos e democra-
• A herança deixada pelo vocabulário que descre- ticamente coordenados (além de alternativas social
ve os espaços não urbanos – rural, interior, hinterlân- e ambientalmente sãs) de integração entre os vários
dia – está enquadrada em um fundamento bastante lugares, regiões, territórios e ecossistemas em que os
externalista que tende a diferenciar esses espaços em seres humanos dependem coletivamente para a nossa
termos analíticos e espaciais com relação às zonas vida planetária em comum. À medida que essas ideias
tradicionalmente urbanas das cidades. Entretanto, vão mobilizando novas capacidades de constituição
hoje em dia, é preciso encontrar novas formas de in- deste campo em emergência, os arquitetos e urbanis-
terpretar e mapear os variados territórios, paisagens tas passam a ser confrontados por uma importante
e ecossistemas do planeta em urbanização de modo escolha ética quanto à natureza de intervenção do seu
com que não sejam binariamente postas em oposição trabalho: ajudar na produção de eficientes paisagens
a essas “cidades” e/ou com que não tenham suas utili- operacionais para a acumulação de capital, ou, em
dades operacionais desvalorizadas quando observadas troca, explorar novas formas de apropriação e reorga-
através do fetiche dos critérios demográficos. A “não nização das geografias de urbanização das não cidades
cidade” não pode mais ser vista como algo exterior ao para usos coletivos e/ou de bem comum.
urbano; ela vem se transformando em terreno estra- A perspectiva apresentada aqui neste artigo é
tegicamente essencial para a urbanização capitalista. orientada por um projeto contraideológico, no qual
os urbanistas dedicados ao estudo desses espaços não
urbanos têm importância elementar de contribui-
ção. Neste sentido, como nós poderíamos visualizar,
13 Brenner e Schmid, “Towards a new epistemology of the
urban.” e, portanto politizar, essas “teias” abrangentes, mas
10
nº 25 ▪ ano 7 | junho de 2016 ▪ e-metropolis
Description:ainda a confirmar. No decorrer do .. É interessante que o Abahlali invoque a expressão pode se juntar ao Abahlali se aderir a um processo de-.