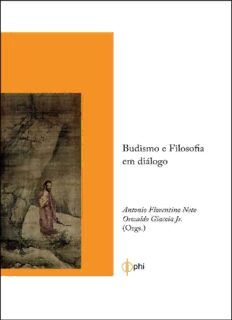Table Of ContentBudismo e Filosofia
em diálogo
Antonio Florentino Neto
Oswaldo Giacoia Jr.
(Orgs.)
Editora Phi LTDA
Campinas - SP
2014
Editores
Antonio Florentino Neto
Douglas Ferreira Barros
Conselho Editorial
Adriano Naves Brito
Alcino Eduardo Bonella
Daniel Omar Perez
Eder Soares Santos
Henry Burnett
Jeanne Marie Gagnebin
Luiz Paulo Rouanet
Marcio Suzuki
Marcos Lutz Muller
Oswaldo Giacoia Jr.
Robson Ramos Reis
Sofia Stein
Editora Phi Ltda
Rua Castro Mendes, 133
Taquaral - Campinas- SP - Brasil
13076-120
www.editoraphi.com.br
e-mail: [email protected]
© 2014 copyright Editora Phi LTDA
Editor responsável
Antonio Florentino Neto
Diagramação
Eva Maria Maschio
E-book
Eduardo de Andrade Silva
ISBN
978-85-66045-24-6
Apresentação
Na edição de 2013, a série de Diálogos Ocidente-Oriente decididamente avançou
no caminho de uma aproximação entre a moderna filosofia ocidental e o
pensamento Zen Budista. Nesse sentido, a presença estimulante e inspiradora de
Ryosuke Ohashi, um autêntico representante da Escola de Kyoto, bem como seu
importante historiador, proporcionou-nos uma atmosfera intelectual que tornou
possível vivenciar algo do espírito dessa escola filosófica, tanto mais quanto
Ohashi não se limitou a nos oferecer generosamente o compartilhamento de sua
obra, mas mergulhou na filosofia e na arte brasileiras com um interesse e
curiosidade espantosamente juvenis, visitando nossa estética tropicalista a partir
de um olhar e de um modo de sentir caracteristicamente japoneses. Ryosuke
Ohashi e Hisao Matsumaru nos acompanharam pelos intrincados percursos da
lógica do lugar, bem como do conceito de Nada absoluto, tornando possível aos
membros de nosso “Grupo de Estudos sobre o Pensamento Japonês”, bem como
aos participantes do colóquio, apreender de maneira privilegiada o essencial da
filosofia de Kitarô Nishida. Com eles, pudemos dialogar de maneira
extremamente produtiva sobre Nietzsche e Nishitani, sobre a interpretação do
Budismo por Schopenhauer e o status ocupado por essainterpretação no sistema
depensamento único do autor de O mundo como vontade e representação;
naturalmente um dos pivôs dessa conversa filosófica foi a obra de Martin
Heidegger. Já Leonardo Vieira compartilhou com os participantes os resultados
atuais de sua rigorosa e fecunda exegese do pensamento de Nāgārjuna. Para
além do horizonte Zen Budista, a contribuição extraordinária de Dilip Loundo
nos descerrou perspectivas que, hauridas na filosofia vedanta e na rica tradição
espiritual do bramanismo, permitiram uma contextualização histórica do
Budismo em geral, e do Zen-budismo em particular, inserindo-os no interior do
imenso panorama formado pelos diversos ramos em que se divide o riquíssimo
legado cultural hindu – o que proporcionou igualmente a abertura para um
espaço crítico em relação à recepção dessa herança por pensadores como
Nāgārjuna, Nishida, Nishitani, Tanabe e o próprio Ohashi.Essa abertura para um
distanciamento crítico em relação às posições da Escola de Kyoto e sua
característica interpretação do Budismo Zen foi também poderosamente
estimulada pela participação de Joaquim Monteiro, que teve oportunidade de
discutir presencialmente com os convidados estrangeiros e brasileiros suas
próprias interpretações da espiritualidade budista, que são derivadas das
correntes religiosas e culturais a que Monteiro se filia. Giuseppe Ferraro abordou
questões centrais das formas como Ocidente e Oriente, especialmente Descartes
e Nāgārjuna, pensaram a questão do ego e do si-mesmo. Já Gereon Kopf nos
apresentou aportes fundamentais, oriundos de um movimento de imensa
relevância e grande atualidade, a saber,a relação entre o caráter
“antissubstancialista” do Zen-budismo e o projeto de desconstrução da
metafísica, proposto por Derrida. A presença de Agustín Jacinto Zavala, parceiro
constante em nosso trabalho, foi essencial para um aprofundamento de nosso
diálogo transcultural, na medida em que se abriu para um fecundo debate sobre
suas mais recentes investigações no campo dos escritos de Nishida.Como
ocorreu também com as edições anteriores do colóquio, os membros de nosso
grupo de estudos tiveram oportunidade de apresentar ao público as linhas mais
importantes do trabalho que vêm desenvolvendo ao longo dos anos, e de
submeter à crítica suas próprias interpretações, o que enriquece e faz frutificar
nossa experiência. Esse é o espírito que mobiliza nossas preocupações e
reflexões, o mesmo que dá ensejo a esse novo livro.
Organizadores
O pensamento de Nishitani e o Budismo Hisao
Matsumaru O ponto de partida do pensamento
de Nishitani Pretendo esclarecer o fundamento
daquilo que penso ser o ponto de partida do
pensamento presente nas duas obras centrais de Keiji
Nishitani (1900-1990), a saber, Shukyo to wa nani ka (O
que é a religião) (Nishitani, 1961) e Zen no tachiba (O
ponto de vista do Zen) (Nishitani, 1986). A reflexão de
Nishitani pode dar a impressão de desenvolver uma
apreensão pessimista da contemporaneidade
considerada como um período histórico e das
características deste mundo contemporâneo. Essa
apreensão tem por seu ponto de partida a visão de que
o mundo contemporâneo é marcado pelo niilismo em
seu próprio fundamento. Nesse caso, o niilismo, em
sua relação com a humanidade contemporânea, tem
por sua consequência as seguintes características: o
fato de que essa humanidade perdeu o ponto de apoio
de seu coração e o direcionamento para sua paz de
espírito (Id., p. 161).
Assim sendo, por que a humanidade contemporânea perdeu o suporte de seu
coração e o direcionamento para sua paz de espírito? Como terá se dado esta
situação histórica do surgimento do niilismo? Ou ainda, onde estará a causa do
surgimento do niilismo?
No que diz respeito ao surgimento do niilismo e de sua autoconsciência, a
influência dominante exercida pela visão de mundo das ciências naturais sobre a
humanidade em sua passagem da modernidade para a contemporaneidade
exerceu um grande papel. A visão de mundo das ciências naturais, que começou
a se expandir no Ocidente a partir da modernidade e que logo passou a dominar
a visão de mundo contemporânea, entrou em choque com a visão de mundo
religiosa de caráter finalista e com a visão de mundo baseada em uma reflexão
filosófica, que se desenvolveu através de uma relação necessária com a visão de
mundo religiosa (a metafísica tradicional), até então centrais no Ocidente, vindo
a superar tanto a visão de mundo religiosa como a visão de mundo metafísica.
Podemos dizer simplesmente que, para Nishitani, a situação histórica do mundo
contemporâneo acima descrita, ainda que o esquema da visão de mundo
científica tenha lançado um desafio às visões de mundo religiosa e metafísica,
representa uma negação direta da religião e da metafísica, fundamentada em uma
teleologia. No entanto, uma grande parte da humanidade contemporânea parece
acreditar nessa visão de mundo científica informada pelo ponto de vista
científico. Será que essa parcela considerável da humanidade está realizando a
paz de espírito, a confiança e a plenitude da existência ao considerar a visão de
mundo científica como a única verdade?
A visão de mundo científica e o niilismo Nesse caso, no fundamento da
visão de mundo científica existe o ponto de vista do racionalismo científico;
seu conteúdo é o materialismo e, por consequência, o ponto de vista do
ateísmo. O ponto de vista racionalista, que fundamenta a visão de mundo
científica, caso expresso de forma extrema, implica que o mundo natural é
dominado pela lei da necessidade mecânica, e que, na apreensão dessa lei,
nada mais é necessário além da racionalidade humana. Ou ainda, que na
medida em que essa lei está de acordo com a razão, ela pode ser
compreendida de forma racional. Essa compreensão racional possui em seu
interior um caráter que dispensa qualquer existência transcendente para
além de si mesma. Na abordagem de Nishitani, a ciência se completa em
meio ao seu próprio sistema racional, dispensando qualquer princípio ou
fundamento que proceda de um domínio não científico, e possui em sua base
uma estrutura que se completa de forma perfeita.
Atualmente, não se coloca o problema das limitações da ciência a partir do ponto de vista da própria
ciência. Ou seja, o ponto de vista científico inclui essencialmente uma tendência a não reconhecer não
só a religião, mas também a filosofia. (com a exceção da filosofia da ciência, que assume o ponto de
vista da ciência). Ou seja, a ciência parece ver seu ponto de vista como uma verdade absoluta e a se
afirmar de uma forma completa. Em função disso, não é possível limitar essa questão no presente a um
estabelecimento de limites da forma como se procedeu até agora (Nishitani, 1961, p. 88).
O pilar que sustenta o ponto de vista científico, conforme já me referi
anteriormente, implica em primeiro lugar uma radicalização da racionalidade, ou
seja, acreditar que o mundo consiste em um domínio que pode ser compreendido
sem contradições pela razão humana; e a confiança de que tudo que nele existe
pode ser elucidado através da compreensão racional. Em segundo lugar, o ponto
de vista científico se apoia em um materialismo que pressupõe que a totalidade
da existência pode ser reduzida à matéria. Em consequência disso, aparece em
terceiro lugar um ateísmo como consequência do segundo pilar, ateísmo este que
nega o espírito ou qualquer existência transcendente no sentido da metafísica, na
medida em que são distintos da matéria.
No entanto, entre o primeiro e o segundo pilar, existe uma espécie de
obscuridade oculta. De acordo com o pensamento de que é possível explicar
tudo através da redução à matéria, o mundo, a totalidade da existência, a vida
entendida em seu caráter finalista, a existência humana entendida como a
modalidade mais concreta da existência, a atividade racional humana, e mesmo
sua sensibilidade se tornam uma parte do mundo material. No entanto, será
possível reduzir à materialidade a existência humana que se constitui como o
sujeito da operação racional que desenvolve esse ponto de vista? Por exemplo,
mesmo que fosse possível essa redução à matéria, não é possível negar que é a
atividade espiritual humana que atua no pano de fundo dessa redução. Essa
atividade espiritual é uma parcela da atividade vital, que inclui em si um caráter
não racional e, portanto, não se constitui apenas como uma atividade de caráter
racional. Se o ser humano exercer sua atividade, em concordância com essa
atividade aparecerá necessariamente uma modalidade de sentimento não
racional. A esse respeito, existe o exemplo de que também Heidegger (1927), em
seu Sein und Zeit, aponta para a disposição (befindlichkeit) como um fator
emocional indispensável ao Dasein. A respeito daquilo que também pode ser
chamado de sentimento vital, considerado como uma atividade espiritual de
caráter essencial ao ser humano,1 ele não está sujeito às leis mecânicas que a
ciência natural afirma serem redutíveis à matéria. Resumindo, no pano de fundo
da visão materialista de mundo, é somente quando é incluído um coração que
não pode ser reduzido à matéria que entra em ação o ser humano não racional
como uma existência concreta. Esse coração também é o centro das diversas
atividades racionais, cognitivas e emocionais, incluindo aí a atividade material
do corpo. Não será possível dizer que a atividade racional que atua no pano de
fundo da visão de mundo materialista e ateísta das ciências naturais nada mais é
do que uma parcela da atividade vital que tem o coração por seu centro?2
Description:Se a filosofia for considerada, a partir de sua etimologia, como algo que suscita a sabedoria, a forma de ser do saber filosófico torna-se a própria forma de ser da filosofia. Por exemplo, o conhecimento na filosofia grega antiga era um conhecimento que dizia respeito ao ser e à essência. Nesse