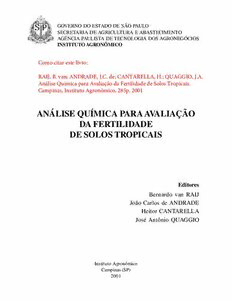Table Of ContentGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO AGRONÔMICO
Como citar este livro:
RAIJ, B. van; ANDRADE, J.C. de; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A.
Análise Química para Avaliação da Fertilidade de Solos Tropicais.
Campinas, Instituto Agronômico, 285p. 2001
ANÁLISE QUÍMICA PARA AVALIAÇÃO
DA FERTILIDADE
DE SOLOS TROPICAIS
Editores
Bernardo van RAIJ
João Carlos de ANDRADE
Heitor CANTARELLA
José Antônio QUAGGIO
Instituto Agronômico
Campinas (SP)
2001
Governador do Estado
Geraldo Alckmin
Secretário de Agricultura e Abastecimento
João Carlos de Souza Meirelles
Coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
José Sidnei Gonçalves
Diretor-Geral do Instituto Agronômico
Eduardo Antonio Bulisani
Comitê Editorial do Instituto Agronômico: Angela Maria Cangiani Furlani, Oliveiro
Guerreiro Filho, Juarez Antonio Betti, Ricardo M. Coelho e Sueli dos Santos Freitas.
Equipe participante desta publicação
Editoração eletrônica: Ana Maria da Silva Oliveira.
Revisão do vernáculo: Maria Angela Manzi da Silva (Núcleo de Documentação - IAC).
Desenhos: Eliane A. Pimentel e Iveraldo Rodrigues (Setor de Desenho, Instituto de
Química - Unicamp).
Capa: Joaquim José Sacco Junior.
Campinas. Instituto Agronômico
Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais,
editado por B. van Raij, J.C. de Andrade, H. Cantarella e J.A.
Quaggio. Campinas, Instituto Agronômico, 2001.
285p.
CDD 631.41
631.45
ISBN 85-85564-05-9
Todos os direitos reservados
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação
ª
do Copyright (Lei nº 9610).
INSTITUTO AGRONÔMICO
Caixa Postal 28 - 13001-970 Campinas (SP)
Fone: (19) 3231-5422 (PABX) - Fax: (19) 3231-4943
www.iac.br - Endereço eletrônico: [email protected]
Informações sobre os autores
Aline Renée Coscione, Química, estudante de doutorado do Curso de pós-graduação em
Química, Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas (SP).
Bernardo van Raij, Engenheiro Agrônomo, Pesquisador Científico aposentado do Instituto
Agronômico, em Química e Fertilidade do Solo; atualmente, exerce o cargo de Chefe-
Geral da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna (SP).
Cleide Aparecida de Abreu, Engenheira Agrônoma, Pesquisadora Científica em Fertilidade
do Solo e Nutrição de Plantas, Centro de Solos e Recursos Agroambientais, Instituto
Agronômico, Campinas (SP).
Hans Raj Gheyi, Engenheiro Agrícola, Professor do Departamento de Engenharia Agrícola,
Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande
(PB).
Heitor Cantarella, Engenheiro Agrônomo, Pesquisador Científico em Fertilidade do
Solo e Nutrição de Plantas, Centro de Solos e Recursos Agroambientais, Instituto
Agronômico, Campinas (SP).
João Carlos de Andrade, Químico, Professor de Química Analítica, Instituto de Química,
Universidade Estadual de Campinas (SP).
José Antônio Quaggio, Engenheiro Agrônomo, Pesquisador Científico em Fertilidade
do Solo e Nutrição de Plantas, Centro de Solos e Recursos Agroambientais, Instituto
Agronômico, Campinas (SP).
Luiz Ignácio Prochnow, Engenheiro Agrônomo, Professor de Fertilidade do Solo e
Fertilizantes, Departamento de Solos e Nutrição de Plantas, Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba (SP).
Manoel Evaristo Ferreira, Engenheiro Agrônomo, Professor de Fertilidade do Solo,
Departamento de Solos e Adubos, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias,
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal (SP).
Mônica Ferreira de Abreu, Química, Pesquisadora Científica em Química Analítica
aplicada a Solos e Nutrição de Plantas, Centro de Solos e Recursos Agroambientais
do Instituto Agronômico, Campinas (SP).
Ondino Cleante Bataglia, Engenheiro Agrônomo, Pesquisador Científico em Fertilidade
do Solo e Nutrição de Plantas, Centro de Solos e Recursos Agroambientais, Instituto
Agronômico, Campinas (SP).
Paulo Cesar Ocheuze Trivelin, Engenheiro Agrônomo, Professor Associado, Divisão
de Desenvolvimento de Métodos e Técnicas Analíticas e Nucleares, Laboratório de
Isótopos Estáveis, Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), Universidade
de São Paulo, Piracicaba (SP).
ATENÇÃO
Os métodos descritos neste livro envolvem o uso de
produtos químicos, equipamentos e procedimentos opera-
cionais que são potencialmente perigosos, particularmente
quando utilizados por pessoal não qualificado e em instalações
inadequadas. Por esse motivo, a todos que utilizarem este
material recomenda-se planejar e desenvolver procedimentos
de segurança, de acordo com as situações e necessidades locais
e específicas, incluindo o descarte de resíduos. Todas as regras
de segurança devem ser rigorosamente obedecidas. Apesar
de todos os esforços para assegurar e encorajar práticas labora-
toriais seguras e o uso correto dos equipamentos e dos reagentes
químicos, os autores não se responsabilizam por procedimentos
incorretos ou indevidos das informações publicadas.
SUMÁRIO
Página
PREFÁCIO.................................................................................................. v
1
INTRODUÇÃO............................................................................................
Capítulo 1. Os métodos de análise química do Sistema IAC de Análise de Solo
no contexto nacional.................................................................................. 5
Capítulo 2. Procedimentos básicos em um laboratório de análise................... 40
Capítulo 3. Soluções-padrão e qualidade dos reagentes................................... 57
Capítulo 4. Equipamentos para o manuseio simultâneo de amostras.............. 69
Capítulo 5. Instrumentação básica e medidas analíticas................................... 78
Capítulo 6. Registro e preparo das amostras ..................................................... 136
Capítulo 7. Controle de qualidade dos resultados............................................ 142
Capítulo 8. Unidades de representação.............................................................. 164
Capítulo 9. Determinação da matéria orgânica................................................. 173
Capítulo 10. Determinação do pH em cloreto de cálcio e da acidez total....... 181
Capítulo 11. Determinação de fósforo, cálcio, magnésio e potássio extraídos
com resina trocadora de íons...................................................................... 189
Capítulo 12. Determinação de alumínio, cálcio, magnésio, potássio e sódio
trocáveis em extrato de cloreto de amônio ............................................... 200
Capítulo 13. Determinação de alumínio, cálcio e magnésio trocáveis em extrato
de cloreto de potássio................................................................................. 213
Capítulo 14. Determinação de sulfato em solos................................................ 225
Capítulo 15. Determinação de boro em água quente, usando aquecimento com
microonda................................................................................................... 231
Capítulo 16. Determinação de cobre, ferro, manganês, zinco, cádmio, cromo,
níquel e chumbo em solo usando a solução DTPA em pH 7,3................. 240
Capítulo 17. Determinação de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre,
cobre, ferro, manganês, zinco, níquel, cádmio, cromo e chumbo em ácido
nítrico usando métodos da US-EPA........................................................... 251
Capítulo 18. Determinação de nitrogênio total em solo.................................. 262
Capítulo 19. Determinação de nitrogênio inorgânico em solo pelo método de
destilação a vapor....................................................................................... 270
Capítulo 20. Determinação da condutividade elétrica e de cátions solúveis em
extratos aquosos de solos........................................................................... 277
PREFÁCIO
A análise de solo é a análise química mais usada na agricultura. Embora
não se tenha estatísticas recentes, o último dado disponível indicava que mais de
700 mil amostras de solos foram analisadas em 1989, podendo-se presumir que
esse número, anualmente no Brasil, já tenha atingido um milhão. Compare-se com
valores de 3 a 4 milhões de amostras por ano nos Estados Unidos ou 300 mil
amostras na pequena Holanda, para se ter a impressão de que podemos crescer
muito mais. Afinal, é apenas uma amostra por ano para cerca de 60 hectares
cultivados, sem contar as pastagens.
A análise de solo é feita para a avaliação da reação do solo e da disponibilidade
de nutrientes para as plantas. Serve, assim, para a prescrição de corretivos e
fertilizantes. O Brasil consome mais de 5 milhões de toneladas de nutrientes por
ano dos chamados NPK, com o que o agricultor gasta o equivalente a 0,5% do
PIB. Parece muito, mas ao observar que a China consome mais de 30 milhões
de toneladas de nutrientes para 90 milhões de hectares cultivados, percebe-se
uma diferença importante. O mundo todo consome 150 milhões de toneladas. O
Brasil produz 80 milhões de toneladas de grãos, contra 500 milhões da China e
2 bilhões mundialmente. Há muito espaço para crescer, porém é preciso utilizar
mais adubo, bem como as análises de solo, em número de amostras e diversidade
de determinações, para melhor aplicação desse insumo.
Além dos aspectos quantitativos, de grande importância, surgiram, recente-
mente, outros fatos relevantes à análise de solo e adubação. A preocupação
ambiental tem aumentado o interesse pela análise de solo, a fim de prevenir o
excesso de nutrientes evadindo o solo e contaminando os recursos hídricos ou o
acúmulo de metais pesados tóxicos. A agricultura de precisão, ao buscar as dife-
renças entre sítios e mapear a heterogeneidade, em contraste com a tradicional
avaliação da fertilidade do solo de áreas homogêneas, introduz nova e fascinante
alternativa de manejo da adubação. A busca da sanidade das culturas e da qualidade
dos produtos também depende da nutrição adequada como um dos importantes
fatores de otimização.
Assim, a análise de solo pode colaborar para a solução de desafios que
incluem a necessidade de aumentar e otimizar o uso de corretivos e fertilizantes
em uma diversidade de condições de solo, aumentar o retorno econômico do
investimento nos insumos, melhorar a qualidade dos produtos agrícolas, elevar
a resistência à seca, doenças e pragas e, concomitantemente, preservar a qualidade
ambiental. É um conjunto complexo de objetivos para os quais os laboratórios
de análise de solo, por ocuparem posição de convergência dos resultados de
pesquisa, servindo de apoio para a difusão de informações aos produtores, precisam
estar preparados.
Muito tempo se passou desde que, na primeira metade do século passado,
Liebig descrevia os nutrientes minerais das plantas e a lei do mínimo, ou quando,
já neste século, Mitscherlich aplicava a lei dos incrementos decrescentes como
princípio fundamental da economia da adubação. A validade desses conceitos
continua inalterada, mas o conhecimento aumentou e a maior complexidade de
abordagens se faz necessária no mundo de hoje.
O Instituto Agronômico acompanha os desenvolvimentos em análise de
solo desde suas criação. O seu primeiro diretor, Franz Wilhelm Dafert, químico
agrícola de formação, já se preocupava com a nutrição do cafeeiro antes mesmo
da proclamação da República. Em 1904, o Instituto Agronômico recebeu medalha
de prata na Exposição Internacional de New Orleans, Estados Unidos, por seus
desenvolvimentos em análise de solo. Na primeira metade deste século praticavam-
-se as análises sumárias para atendimento aos produtores. No entanto, a análise
de rotina enfrentava problemas em meados do século, pela morosidade dos
procedimentos laboratoriais. Nem o importante trabalho, publicado em 1955
pelo Instituto Agronõmico sobre métodos de análise de solo - o Boletim 69 -
que apresentava, além da descrição dos métodos de análise de solo, os limites de
interpretação de resultados de análise do solo, conseguiu alterar a situação, embora
tenha influenciado a produção de grande acúmulo de informações que foram,
posteriormente, de uso prático.
Uma nova fase na análise de solo, no Estado de São Paulo, foi promovida
pela participação, no programa nacional liderado pelo Instituto de Química Agrícola,
do Ministério da Agricultura, com a Universidade da Carolina do Norte. A
homogeneização dos métodos de análise e a automação dos laboratórios de análise
de solo, logo atingiu o IAC, que rapidamente dominou a nova tecnologia. Como
os métodos de determinação introduzidos produziam resultados de fósforo e
potássio que pouco diferiam dos obtidos pelos métodos em uso na instituição,
grande parte da pesquisa realizada em torno dos conceitos e métodos do Boletim
69, pôde ser utilizada.
Nesse profícuo ambiente, iniciou-se o desenvolvimento dos diversos métodos
de análise de solo descritos neste livro. Inicialmente, buscou-se aperfeiçoar alguns
aspectos dos métodos de extração, em que o resultado de análise de solo parecia
estar em desacordo com as respostas das culturas à aplicação de insumos, corretivos
e fertilizantes. Foram encontradas soluções que levaram à importante decisão -
a de nunca colocar a conveniência do laboratório acima do interesse agronômico
do resultado - ou seja, adotaram-se métodos adequados para o diagnóstico mais
apurado, mesmo que isso implicasse maiores dificuldades no laboratório de rotina,
o que até hoje está na contra-mão das tendências.
A pesquisa liderada pelos pesquisadores da Seção de Fertilidade do Solo e
Nutrição de Plantas, atualmente, Centro de Solos e Recursos Agroambientais,
produziu, como desenvolvimentos mais importantes, a extração do fósforo do
solo pela resina de troca iônica e a determinação das doses de calcário para
neutralizar a acidez do solo pelo critério da saturação por bases, mais adaptadas
às condições de solos tropicais, e que embasaram a publicação, em 1985, das
recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo - o Boletim
100. Todos os métodos utilizados na ocasião foram publicados nesse boletim
técnico.
Também no uso de equipamentos, o IAC foi pioneiro. Assim, na análise de
rotina de solo para atendimento a agricultores, a instituição foi a primeira a
utilizar, cada um no seu tempo, o fotômetro de chama, o espectrofotômetro de
absorção atômica e, mais recentemente, o espectrômetro de emissão em plasma
de argônio.
O interesse mútuo na aplicação dos conhecimentos adquiridos e no
desenvolvimento dos métodos de análise levou a bom termo a parceria entre o
IAC e Universidade Estadual de Campinas, estabelecida há cerca de 15 anos.
Desse trabalho em conjunto com o Departamento de Química Analítica, do Instituto
de Química da Unicamp, além da realização de projetos que resultaram em
dissertações de mestrado e teses de doutorado, e várias publicações em periódicos
de circulação nacional e internacional, surgiu um maior fortalecimento dos aspectos
químicos da análise de solo. A ênfase à química analítica é evidente em diversos
capítulos do livro.
Durante esses anos registre-se o apoio efetivo de duas agências nacionais
de fomento à pesquisa, o CNPq e a FAPESP. Em especial, deve-se destacar o
projeto Temático FAPESP “Micronutrientes e Microelementos Tóxicos na
Agricultura”, desenvolvido por 15 Pesquisadores do IAC e da Unicamp entre
1991 e 1996, que contribuiu expressivamente no desenvolvimento e aplicação
de métodos analíticos; a análise de micronutrientes foi a mais importante inovação
na segunda edição do Boletim 100, publicado em 1996.
Este livro contém métodos de análise que vão além das necessidades
agronômicas e avançam nos temas ambientais. Dessa forma, acreditamos que os
protocolos aqui apresentados vão ao encontro de toda a complexa necessidade
da agricultura de hoje, com métodos de qualidade para a avaliação adequada
dos problemas de solos, para fins de correção de solo e adubação e monitoramento
ambiental.
Bernardo van Raij
João Carlos de Andrade
Heitor Cantarella
José Antônio Quaggio
Os métodos de análise química do Sistema IAC de Análise de solo... 1
Introdução
A análise de solo é um componente importante na recomendação
de adubação de culturas, com influência na qualidade de todo o processo
agrícola. O assunto, no Brasil, tem conotação especial pela condição de
região tropical, lembrando que os principais desenvolvimentos da análise
de solo tiveram origem em países de clima temperado, principalmente
nos Estados Unidos. Nem sempre as soluções daqueles países são
adequadas aos solos brasileiros. Dessa forma, nas últimas décadas buscou-
se, para o Estado de São Paulo, o desenvolvimento de métodos de análise
química do solo adequados às condições regionais de solos tropicais,
que pudessem refletir, da melhor maneira possível, as respostas de culturas
a corretivos e fertilizantes. Esses métodos são descritos neste livro, como
são utilizados atualmente pelo Instituto Agronômico, em Campinas, e
pelos laboratórios que adotam o Sistema IAC de Análise de Solo. São
apresentadas, também, informações sobre outras atividades correlatas,
destacando-se os aparelhos para manuseio de grande número de amostras,
o uso dos modernos instrumentos de medidas, a representação de resultados
e cálculos e o controle de qualidade no laboratório e entre laboratórios.
Com o objetivo de situar os métodos de análise química, diante dos
problemas de fertilidade do solo, o Capítulo 1 destaca a evolução da
análise de solo no Brasil e em São Paulo, esclarecendo as razões principais
das mudanças que foram introduzidas nesse Estado, que não estiveram
alheias ao contexto nacional. Podem ser reconhecidas duas etapas principais
de maior impacto. Em 1983, a introdução do critério de calagem embasado
na elevação da saturação por bases do solo, e a determinação do fósforo
através do método da resina de troca iônica, foram as duas principais
inovações - fundamentais para dar maior suporte técnico-científico às
recomendações de adubação e calagem para as culturas do Estado de
São Paulo - publicadas no “Boletim 100”, obra de caráter técnico, muito
utilizada pelos engenheiros agrônomos. Em 1996, novos avanços permi-
tiram aperfeiçoar essas recomendações em uma segunda edição do Boletim
100. Foram introduzidas, na análise de solo de rotina, a análise de
micronutrientes em solos, bem como, a de subsolo para a recomendação
de gesso para algumas culturas, além de diversas inovações não relacio-
nadas à análise de solo.