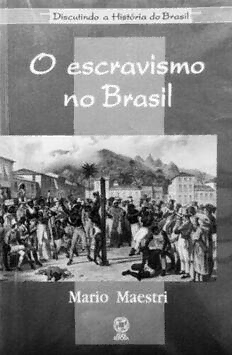Table Of ContentE
Õ Ê. Q s em S 5] Q G ETA o ajmo “Q É G 0) Q Q & Q m
Discutindo a História do Brasil
Ra
Ó escravismo
no Brasil
Mário Maestri
Coordenação:
Maria Ligia Prado
Maria Helena Capelato
Para os colegas e amigos:
Klaus Hilbert,
Lúcia e Arno Kern,
Niúncia Santoro e
EÓNRRA René Gertz.
Para meu filho Gregório,
que leu os originais.
O Mário Maestri, 1994.
Copyright desta edição:
EDITORA AFILIADA ATUAL EDITORA LTDA., 1994.
Rua José Antônio Coelho, 785
04011-062 — São Paulo — SP
Todos os direitos reservados.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Maestri, Mário
O escravismo no Brasil / Mário Maestri ; coordenação Maria
Ligia Prado, Maria Helena Capelato. — São Paulo : Atual, 1994. —
(Discutindo a história do Brasil)
Bibliografia.
ISBN 85-7056-673-5
1. Escravidão — Brasil 2. Escravidão — Brasil — História I.
Prado, Maria Ligia. II. Capelato, Maria Helena. III. Título. IV. Série.
94-3201 CDD-981
fadices para catálogo sistemático:
Brasil : Escravidão : História 981
Coleção Discutindo a História do Brasil
Editor: Wilson Roberto Gambeta
Assistente editorial: Shirley Gomes
Preparação de texto: Noé G. Ribeiro
Paulo Sá
Gerente de produção editorial: Cláudio Espósito Godoy
Assistente de produção editorial: Rita Feital
Revisão: Maria Luiza X. Souto
Maria de Fátima C. A. Madeira
Editoração eletrônica: Silvia Regina E. Almeida
Virgínia S. Araujo
Chefe de arte: Tania Ferreira de Abreu
Diagramação: Ricardo Yorio
Assistente de arte: Marcos Puntel de Oliveira
Produção gráfica: Antonio Cabello Q. Filho
José Rogerio L. de Simone
Maurício T. de Moraes
Projeto gráfico: Tania Ferreira de Abreu (capa)
Marcos Puntel de Oliveira (miolo)
Capa: “Punição pública na Praça Santana”
(RJ.), Gravura de Rugendas, séc. XIX.
Mapas: Sonia Vaz
Fotolito: Binhos/STAP
Composição: Graphbox
NOS PEDIDOS TELEGRÁFICOS BAST A CITAR O CÓDIGO: ANCH 8981Z
Sumário
iCO OCO OO O s
Bate-papo com O autor .........i.s ..ee.re.er.era.ancee s 1
Introdução ..........iieeeeeeeeeeeererrerrerererrerererenaa 5
1. Escravidão antiga e escravidão colonial ............... 7
2. Escravidão de índios .........cem 19
3. Comércio negreiro: da África ao Brasil ................. 31
4. A escravidão nas cidades ..............sserreteees 53
5. Escravidão nos campos .............eeeeeees 72
6. Castigoe resistência servil............seeas 87
Cronologia ...........eeereererereeerereererenererereraaareases 105
Bibliografia ....... eres ands 109
Discutindo o texto
Bate-papo com o autor
ário Maestri nasceu em 1948, em Porto
Alegre, Rio Grande do Sul. É casado e tem dois
filhos, Marina e Gregório. Iniciou seus estudos em
NO PR História na Universidade Federal do Rio Grande
do sul em n 1969. Em 1970, devido à situação política da época, foi
viver no Chile, onde prosseguiu seus estudos no Instituto Pedagógico
da Universidad de Chile. Em 1973, após o golpe militar naquele país,
mudou-se para a Bélgica e ingressou na Université Catholique de
Louvain, onde defendeu tese de mestrado e doutorado sobre a
história da África Negra e da escravidão colonial brasileira, respectiva-
mente.
Em 1977, de volta ao Brasil, trabalhou em diversas instituições de
ensino universitário, entre elas, o Mestrado em História da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. De 1984 a 1988, viveu em Milão, na
Itália, dedicando-se à pesquisa histórica e trabalhando como corres-
pondente internacional de um diário brasileiro. Atuou como profes-
sor, de 1989 a 1993, no Curso de Pós-Graduação em História da PUC-
RS. Em 1990, realizou um projeto de pós-doutoramento em História,
financiado pelo CNPq, na Bélgica. Atualmente (1994) é professor de
História do Brasil na UFRGS.
Mário Maestri publicou quase vinte livros. Entre eles, no Brasil:
1910: A revolta dos marinheiros (Global, 1982); História da África
Negra pré-colonial (Mercado Aberto, 1988); Servidão negra (Mercado
Aberto, 19O8 esc8rav)o ga;úch o: resistência e trabalho(UFRGS, 1993);
Terra do Brasil(Moderna, 1993); Os senhores do litoralCUFRGS, 1994).
Na Itália, publicou Lo schiavismo coloniale (Sellerio, 1989), Storia del
Brasile (Xenia, 1990), e, na França, L'esclavage au Brésil (Karthala,
1991). Pu blicou, igualmente, dois livros de ficção: Um caminho de
sombras (Mercado Aberto, 1987) e Carcaça de negro (Tchê, 1988).
1
A seguir, Mário Maestri responde a algumas perguntas relaciona-
das ao presente livro:
P. Como o autor, sobretudo sendo de origem italiana, se inte-
ressou pelo tema da escravidão?
R. Durante mais de 350 anos, o Brasil foi uma sociedade onde as
principais classes eram a dos empresários escravistas e a dos trabalha-
dores escravizados. Esse período histórico só pode ser compreendido
no contexto da oposição senhores versus escravos. A própria história
do Brasil contemporâneo é profundamente influenciada pelo passado
escravista.
A história do escravo constitui a pré-história do trabalhador
brasileiro. Nesse sentido, todos nós, trabalhadores e assalariados, de
todas as origens étnicas, somos descendentes sociológicos dos escra-
vos brasileiros.
P. Nos últimos anos, alguns historiadores defendem que a
escravidão não teria sido dura. Que os escravos comiam bem,
não trabalhavam muito, eram pouco castigados, possutam
famílias estáveis. Como o autor explica essas divergências?
R. Os historiadores escrevem a história a partir dos documentos,
segundo suas concepções metodológicas, políticas, ideológicas, cul-
turaís, etc. A interpretação da documentação é influenciada pelas
opiniões do autor, conscientes e inconscientes, queira ele ou não.
O historiador Jacob Gorender, que, na minha opinião, é autor da mais
importante obra sobre a escravidão — O escravismo colonial —,
escreveu que essa divergência entre historiadores se deveria também
ao fato de que a escravidão foi igualmente boa e ruim. Boa para os
escravistas, ruim para Os escravos.
P. Onde o autor identificaria marcas do passado escravista
na sociedade brasileira contemporânea?
R. As heranças escravistas da nossa sociedade são múltiplas e profun-
das. As principais são o racismo, o desprezo pelo trabalho manual, o
desrespeito aos direitos dos cidadãos das camadas populares.
Durante a escravidão, os proprietários, em geral brancos, tinham
o direito de fazer os escravos negros trabalhar como quisessem e
retribuí-los como desejassem. E, quando os trabalhadores escraviza-
dos resistiam, os amos possuíam o direito — segundo a lei, a moral e
a religião — de castigá-los fisicamente.
2
A escravidão influencia ainda a visão de nossas elites sobre os
trabalhadores. Sobretudo porque esse passado e essas idéias ajudam
a manter e a justificar seus privilégios. Por outro lado, a visão de
mundo das elites termina irradiando-se e difundindo-se entre as
próprias camadas populares.
P. A influência da cultura africana no Brasil é reconhecida.
Porém, pouco sabemos sobre a história da África. Isso não
Drejudicaria o conhecimento da nossa história?
R. Cerca de 3 a 5 milhões de africanos, homens e mulheres, foram
arrancados da África e trazidos para o Brasil. Foi o tráfico negreiro que
alimentou, durante séculos, a reposição da mão-de-obra trabalhadora
do Brasil. Inúmeros aspectos do nosso passado são ignorados ou
incompreensíveis devido ao grande desconhecimento, no Brasil, da
história africana. A pouca atenção que se dá a esse aspecto é outra
espécie de herança escravista. Estudamos a história dos proprietários
escravistas, e não a dos trabalhadores escravizados.
Introdução
Brasil: 350 anos
de escravismo
Brasil foi um dos primeiros países americanos a conhecer
a escravidão e o último a aboli-la. Até 1888, o escravismo
foi o coração do Brasil. Pouco compreenderemos da
história brasileira se desconhecermos o nosso passado
escravista.
No capítulo 1 — Escravidão antiga e escravidão colonial —,
apresentamos as diferenças entre o escravismo clássico e o colonial.
Os cativos americanos viveram condições de existência ainda piores
do que as conhecidas na Antiguidade. Destacamos também a partici-
pação dos portugueses no nascimento do tráfico negreiro interna-
cional.
Nos primeiros tempos da Colônia, o índio, e não o africano,
trabalhou até a morte nas vilas e engenhos. Os colonos só começaram
a importar maciçamente africanos no fim do século XVI, quando as
comunidades nativas escasseavam, consumidas pela escravidão. No
capítulo 2 — Escravidão de índios —, analisamos essa realidade e as
razões da substituição do escravo americano pelo africano.
A imensa maioria dos cativos negros escravizados no Brasil aqui
chegou, ainda jovem, da África. Durante séculos, o tráfico negreiro
alimentou a população escravizada. No capítulo 3 — Comércio
negreiro: da África ao Brasil —, falamos da triste trajetória do africano,
desde o momento em que perdia a liberdade, no continente negro,
até sua venda, no Brasil.
As cidades escravistas eram rústicas e pouco desenvolvidas. Elas
desempenhavam funções administrativas e comerciais e apoiavam o
esforço exportador rural. Nessa época, vivia-se melhor nos campos
do que nas cidades. Apenas o esforço do cativo tornava habitáveis as
cidades e as residências urbanas. No capítulo 4 — A escravidão nas
cidades —, tratamos da escravidão urbana e da sua influência no
modo de viver e morar de então. Uma realidade que ainda podemos
apreciar nas poucas moradias urbanas da Colônia e do Império que
resistem à especulação imobiliária e à despreocupação de nossas
autoridades.
Veremos no capítulo 5 — Escravidão nos campos — que o Brasil
escravista foi essencialmente rural. Vivia-se e trabalhava-se, sobretu-
do, nos engenhos, nas minas, nas fazendas cafeicultoras, nas planta-
ções de fumo, nas estâncias e charqueadas. Dedicamos esse capítulo
à análise das principais atividades rurais escravistas. Nele, tratamos
também das condições de vida dos trabalhadores escravizados —
alimentação, vestuário, moradia, saúde, família.
No capítulo 6 — Castigo e resistência servil —, abordamos a
violência senhorial e a resistência servil. Os senhores preocupavam-se
com os lucros e despreocupavam-se com os cativos. Eles trabalhavam
muito. Eram mal-alimentados. Malvestidos. Mal-alojados. Se reclama-
vam ou se rebelavam, eram castigados. Durante três séculos e meio,
fomos uma nação de torturados e torturadores.
Durante as caminhadas nos sertões africanos, nos barracões das
feitorias, a bordo dos navios tumbeiros ou nas cidades e plantações, o
cativo lutou, como pôde, contra a escravidão. Trabalhava mal, fugia,
aquilombava-se, roubava, assassinava senhores e feitores, organizava
revoltas e insurreições. Foi a união da resistência escrava e do
movimento abolicionista que alcançou, em 1888, a vitória final contra
a escravidão.
Por problemas de espaço, muitos outros aspectos importantes do
escravismo brasileiro não foram mencionados — a alforria, os cultos
africanos, a vida dos libertos, etc.
Escravidão antiga
e escravidão colonial
O escravismo clássico
a Antiguidade, as principais civilizações do Mediterrâneo
funcionavam, nos campos e nas cidades, apoiadas pelo
trabalho escravizado. Na Idade Média, a escravidão cons-
tituiu uma forma secundária de produção. O escravismo
americano foi uma superação e não uma continuidade da instituição
conhecida pelo Mundo Antigo ou pela sociedade feudal.
Na Antiguidade mediterrânica, as unidades agrícolas escravistas
— fazendas — eram, na sua maioria, pequeninas explorações rurais
de subsistência. Nelas, o proprietário trabalhava, de sol a sol, ajudado
pela família e por um ou dois cativos. As fazendas dedicavam-se a
uma agricultura variada e à pequena criação. Sua produção destinava-
se a, sobretudo, alimentar a família senhorial e os trabalhadores
escravizados.
Apenas uma pequena parte da produção das fazendolas era
vendida. Portanto, não havia sentido que o cativo trabalhasse para
produzir além do necessário para o consumo familiar e para O
pequeno comércio. Essa forma de produção servil é denominada
escravismo patriarcal.
No mundo grego e no Império Romano, nos dois séculos anterio-
res e posteriores ao nascimento de Cristo, nos arredores das cidades e
em regiões próximas ao mar, a rios e a lagos navegáveis, desenvolve-
ram-se fazendas escravistas especializadas na produção de gêneros
agrícolas para o mercado. Os romanos chamavam-nas de villa.
Uma grande villa possuía uma ou duas centenas de hectares de
terra e de dez a vinte trabalhadores escravizados. Elas procuravam
7