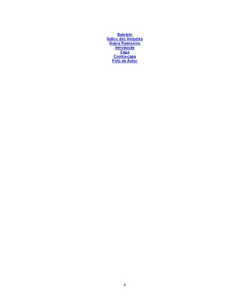Table Of ContentSumário
Índice dos Verbetes
Índice Remissivo
Introdução
Capa
Contra-capa
Foto do Autor
1
22
Dicionário Crítico de
Política Cultural
3
Do mesmo autor:
Moderno pós moderno (Iluminuras)
Arte e utopia (Brasiliense)
Usos da cultura: políticas de ação cultural (Paz e Terra)
Uma outra cena (Pólis)
Em cena, o sentido (Duas Cidades)
A construção do sentido na arquitetura (Perspectiva)
Artaud.- posição da carne (Brasiliense) O sonho de Havana (Max Limonad)
Dicionário do brasileiro de bolso (Siciliano)
Semiótica, informação, comunicação (Perspectiva)
O que é indústria cultural (Brasiliense)
O que é utopia (Brasiliense) O que é ação cultural (Brasiliense)
Fliperama sem creme (romance, Brasiliense)
Niemeyer, um romance (romance, Geração Editorial)
Os histéricos (com J.C. Bernardet; romance, Cia. das Letras)
Céus derretidos (com J.C. Bernardet; romance, Ateliê Editorial)
4
Teixeira Coelho
DICIONÁRIO CRITICO DE
POLÍTICA CULTURAL
Cultura e Imaginário
5
Copyright 1997:
Teixeira Coelho
Copyright desta edição:
Editora Iluminuras Ltda.
Capa:
Isabel Carballo
sobre imagem real e virtual da nova biblioteca de Paris, última grande obra cultural
francesa deste século (foto de Teixeira Coelho) e La danza, de Jean-Baptiste
Carpeaux, 1869, escultura em pedra, 420 x 298 em,
Museu d'Orsay.
Revisão:
Ana Paula Cardoso
Composição:
Iluminuras
ISBN: 85-7321-047-8
1997
EDITORA ILUMINURAS LTDA.
Rua Oscar Freire, 1233
01426-001 - São Paulo - SP
Tel.: (011) 852-8284
Fax: (011) 282-5317
6
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
1. Um domínio para a Política Cultural, Teixeira Coelho., ...................................9
2. Estrutura e operação do Dicionário, Maria de Fátima G. M. Tálamo ..............17
3. Colaboradores .................................................................................................21
DICIONÁRIO CRÍTICO DE POLÍTICA CULTURAL
Índice dos verbetes ..............................................................................................25
Verbetes ...............................................................................................................31
Índice remissivo de termos e não-termos ............................................................367
Voltar
7
INTRODUÇÃO
1. Um domínio para a Política Cultural
Teixeira Coelho
A política cultural é tão antiga quanto o primeiro espetáculo de teatro para o
qual foi necessário obter uma autorização prévia, contratar atores ou cobrar pelo
ingresso. Tão velha, em outras palavras, quanto a Grécia antiga, mais velha que o
império romano, berço de Mecenas, incentivador da arte e da cultura. No mínimo,
tão antiga quanto a Renascença italiana e o dinheiro dos Medici, sem o qual um
estoque majestoso de obras-primas não teria emergido para os olhos admirados de
sucessivos séculos. Ou, ainda, antiga como a Revolução Francesa, que abre "ao
público" as portas das bibliotecas e dos museus e faz surgira política cultural como
um projeto verdadeiramente social. Em última instância, a política cultural tem no
mínimo a idade das iniciativas do escritor e militante André Malraux, no final dos
anos 50 deste século que se encerra, das quais resultou a criação do ministério da
cultura na França e a implantação de uma sólida malha cultural que irriga aquele
país de uma maneira, se não única, sem dúvida notável.
E no entanto, apesar do assentamento conceitual que todo esse amplo
intervalo poderia ter provocado, a terminologia da política cultural tem flutuado,
acaso excessivamente, por cima de uma rede teórica cujas malhas se mostram
abertas demais e à deriva de empréstimos ocasionais obtidos junto a diferentes
disciplinas, como sociologia, economia, história, psicologia, antropologia. Essa
composição heteróclita tem aspectos e conseqüências produtivos. Por outro lado,
as ambivalências e hesitações semânticas provocam, às vezes, não tanto a errância
criativa, mas o impasse ou o retardamento teórico. Esta situação mostrou contornos
mais nítidos à medida que a política cultural começou a forçaras portas não raro
aferrolhadas da universidade e a surgir de maneira insistente em congressos,
simpósios e seminários. Os anos 80, particularmente, viram multiplicar-se, um
pouco por toda parte, os cursos superiores (de graduação, pós-graduação e
extensão) voltados especificamente à formação de recursos humanos para a área
da mediação cultural, entendida como o domínio das ações entre a obra de cultura,
seu produtor e seu público, em substituição ou complementação aos antigos cursos
mais ou apenas preocupados com a obra, sua produção, intelecção e conservação
(como cursos de artes plásticas, cinema, teatro, museologia, biblioteconomia).
Nesse momento, os problemas terminológicos passaram para o primeiro plano.
Quando se fala em cultura, em
8
política cultural, de que exatamente se está falando? O modo como os artistas
entendem a arte é o mesmo com o qual trabalham os programas de política
cultural? E um termo como público, por exemplo, tem em política cultural o mesmo
sentido que assume nos estudos de história ou nos cálculos probabilísticos dos
produtores cinematográficos? O sistema de produção cultural guarda exatamente
quais parentescos com o sistema de produção tal como a economia e a economia
política o vêem? As discordâncias - e, antes mesmo, as hesitações - proliferaram.
Tanto mais quando o vocabulário da política cultural recorre a termos
aparentemente comuns, desses usados cotidianamente e que surgem como
cristalinos... para a leitura apressada e desatenta.
O circuito universitário exige, para reconhecer a condição científica de uma
disciplina, uma certa convergência de miradas: o que estou vendo é a mesma coisa
que você está vendo, ainda que discordemos quanto a sua origem, constituição ou
finalidade? Chamamos essa coisa pelo mesmo nome ou estaremos recorrendo a
um único nome para designar coisas distintas? Alguma ancoragem nacional é
requerida. A massa teórica que na sua tarefa de mapeamento circula pelas
diferentes vias culturais, vias líquidas, quase etéreas, não precisa estar solidamente
amarrada a um cais. Pelo contrário: é melhor que gire ao largo. Mas não à matroca:
uma âncora única que seja, à proa ou à popa, basta para que a massa fique sempre
à vista e é a condição necessária para que não passe seu tempo a procurar o
próprio rumo em vez de perseguir seus objetos últimos.
Uma âncora assim pode assumir diferentes formas - como a de um
dicionário. Se um campo de estudos pode ser dicionarizado é porque já se constitui
num domínio de direito próprio: essa é a crença que circula nos meios
especializados. Crença controvertida. Uma época que sai à cata de dicionários - e
hoje mais que nunca os dicionários proliferam em todos os setores - pode ser uma
época redutora em busca de pílulas imediatamente utilizáveis, solúveis ao menor
toque. É possível. Mas pode ser também uma época que procura reorganizar seu
elenco de conhecimentos para dar um passo à frente. Ou uma época que está
criando as condições para que os assuntos do conhecimento sejam acessíveis por
várias entradas, como num dicionário, em vez de insistir em explanações lineares
que procedem por uma argumentação supostamente encadeada, com base na
causalidade, como nos livros de ensaio e nas teses totalizantes (para não sugerir
totalitárias). A modernidade começou com uma Enciclopédia; a pós-modernidade
pode estar reencontrando, no formato fragmentado do dicionário, uma maneira
contemporânea de reordenar o conhecimento.
Elaborar um dicionário de políticas culturais e propor, se não um sentido
único de leitura para seus termos e conceitos, pelo menos uma constelação
privilegiada de noções balizadas, foi o desafio enfrentado por este dicionário. Para
fazer esta espécie de primeira consolidação conceitual da área, e que cria as
condições para falar-se da política cultural como uma ciência da organização das
estruturas culturais, era necessário percorrer a bibliografia especializada e localizar
termos e conceitos recorrentes. Tarefa não tão simples quanto parece: não raro, os
termos estão lá
9
mas os conceitos, não. Assume-se, com grande freqüência, que os conceitos são
auto-evidentes, autênticos dados, praticamente postulados - quando de fato
deveriam ser demonstrados. Se por vezes é possível encontrar aqui e ali, intacta e
inteiriça, a definição de um termo, num número maior de ocasiões é preciso
reconstruir a idéia por trás dele, montá-la peça por peça mediante uma ação de
arqueologia, eventualmente detetivesca. E, não raro, construir uma definição ali
onde nenhuma parece ter sido claramente dada antes.
Para fazê-lo, percorreu-se três universos bibliográficos distintos: primeiro, o
da literatura que trata especificamente do tema (relatórios técnicos de organismos
culturais, leis, atas de congressos, ensaios e teses de especialistas); depois, a
esfera de uma literatura imediatamente conexa (ensaios de sociologia da cultura,
tratados de antropologia cultural, compêndios de história da cultura); e, finalmente,
um último círculo mais vasto que poderia ser denominado "de irrigação" (tratados de
semiótica, filosofia, psicanálise).
O trajeto pelo primeiro universo garante um acompanhamento próximo do
domínio concreto e palpável (para não dizer objetivo) da política cultural. Mas está
claro que a partir do segundo círculo tratou-se de uma opção cada vez mais
singular, menos evidente, à medida que se caminha para a esfera exterior Não é
possível ser de outro modo, neste campo. Possível talvez seja, ao preço porém de
ocultar-se a particularidade do enfoque ou de deixar-se obnubilar por uma falsa
consciência. Preferiu-se adotar aqui, explicitamente, o viés inevitável em política
cultural que é tomar partido.
Mas a singularidade deste dicionário tem outro aspecto. Até recentemente,
a política cultural vinha sendo abordada segundo um enfoque eminentemente
sociológico. O fato cultural era visto unicamente como resultante do comportamento
humano em contextos culturais específicos, que podia ser traduzido simbolicamente
(i. e., no sentido peirceano do termo: convencionalmente, artificialmente) e
explicado por argumentos do tipo causa-efeito linear orientados, de modo particular,
pela idéia da divisão da coletividade em classes antagônicas. Prevalecia, em outras
palavras, uma abordagem da questão cultural, e de seu tratamento pelas políticas
culturais, a partir de um enfoque materialista e hístórico-social. Esta concepção foi
responsável por análises externas do fato cultural e do fato político-cultural das
quais resultaram propostas e programas não menos externos, não raro formulados
fora (e acima) dos contextos aos quais se aplicariam e em nome de princípios
considerados científicos (objetivos e universais). Aquilo que o 'grupo receptor"
(muitas vezes, de maneira extremamente significativa, como num ato falho, também
chamado de "grupo alvo') dessa política cultural fazia com essa programação, suas
motivações arcaicas ou contextualizadas, seus desejos e aspirações, poucas vezes
foram levados em consideração. Essa orientação foi responsável por bom número
de preconceitos, juízos apressados e redutores sobre a dinâmica cultural - de modo
especial, sobre a cultura dita popular e de massa - e pela formulação de programas
de caráter fortemente normativo ou, sem eufemismos, autoritário. Quando baixou o
furor
10